SAÚDE
A A | Seriam irrelevantes os leitores digitais?Cada vez mais brasileiros têm nas telas o suporte principal para leitura. Fenômeno acentua-se entre jovens e periferias. Políticas para difusão literária não podem desprezar, por elitismo, este público – já oprimido social e economicamente Por Jéferson Assumção A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2024, além de mostrar que há mais não leitores (53%) do que leitores (47%) em nosso país, também aponta um aumento do uso da internet no tempo livre dos brasileiros, superior a 80%. Diante dessa transição para o digital, uma migração que já aconteceu na música e no cinema há mais tempo, não seria o momento de nos perguntarmos também sobre como as pessoas estão lendo no mundo digital? Quando fazemos as perguntas atuais (sem dúvida necessárias e que precisam continuar a ser feitas), estamos nos referindo à diminuição de leitores ou de leitores de livros? Para fazer um paralelo com a música ou o cinema, isso não seria a mesma coisa que falarmos sobre a diminuição de consumidores de discos ou CDs, ou do público que consome cinema via DVD? A migração de leitores dos livros para o ambiente digital deveria nos fazer perguntar sobre que tipo de leitura se pratica nas redes sociais e ambientes digitais diversos. Novas perguntas são necessárias para a leitura em tempos de profundas mudanças tecnológicas e de impactos nas formas (incluindo a forma-livro). Afinal seria preconceito presumir, sem evidências, que se trata apenas de uma leitura funcional ou passiva a que ocorre nesses ambientes. Apesar do já medido declínio de leitores de livros, observa-se um crescente número de clubes de leitura online (de livros físicos e digitais), além de plataformas de compartilhamento de escritas e de leituras (no Brasil, Skoob, Skeelo e a globalmente utilizada Whatpad). Pode haver nesses ambientes, precisamos perguntar, também uma leitura cultural, crítica e ativa? Questões como essas estão presentes em pesquisas realizadas nos Estados Unidos1, Coreia do Sul2 e China3. Nessas pesquisas, além de se perguntar sobre a leitura de livros, tende-se a aprofundar questionários sobre novos formatos e tipos de leitura, incluindo Webtoons (quadrinhos digitais com rolagem vertical), Webnovels (Romances seriados publicados online, em capítulos diários/semanais), Light Novels (mistura de texto e ilustrações), em plataformas como Webnovel (China), KakaoPage (Coreia), Wattpad (global). Além desses formatos, os estudos também mapeiam o crescente interesse dos leitores por audiobooks e podcasts narrativos (histórias originais em formato de áudio-série), Visual Novels, narrativas interativas com ramificações (escolhas do leitor alteram a história), livros-jogo: que combinam texto com mecânicas de RPG, interativas e atraentes para os nativos digitais. Esses formatos também estão sendo lidos no Brasil? No artigo “A digitalização da leitura e o consumo de informações”, publicado no Jornal da USP em 11 de dezembro de 2024, Leonardo Assis, pesquisador do Laboratório de Cultura, Informação e Sociedade da Escola de Comunicações e Artes da USP, defende a necessidade de a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil não limitar a definição de leitura e de leitor ao objeto livro, o que, segundo ele, “pode restringir a análise de um fenômeno muito mais amplo”. “Definir atualmente o que é um leitor é algo singular e desafiador. Essa questão tem sido impactada por mudanças tecnológicas e culturais desde a popularização de meios de comunicação como o rádio, o cinema e a televisão. Hoje, a internet e as ferramentas de inteligência artificial tornam essa definição ainda mais difusa e complexa. A pesquisa adota como parâmetro o acesso ao livro, seja ele físico ou digital, mas será que isso basta para capturar a realidade da leitura no contexto atual?” Conforme o autor, hoje o consumo de informação acontece em múltiplos formatos e ambientes, com muitos lendo artigos em blogs, notícias em aplicativos, postagens em redes sociais e mensagens em plataformas digitais. Essas formas de leitura, embora não estejam necessariamente vinculadas ao livro, têm um papel significativo na maneira como nos conectamos com o mundo e adquirimos conhecimento. Talvez seja o momento de ampliar os horizontes e reconsiderar como definimos a prática da leitura. A desmaterialização dos suportes da arte é um dado importante do nosso tempo. O vinil, o CD, o DVD deram lugar ao streaming, sem que possamos dizer que as pessoas passaram a ouvir menos música hoje do que há duas décadas. As lojas de disco praticamente não existem mais, assim como as locadoras de DVD e parece evidente que essas mudanças tecnológicas também pressionam o número e a distribuição territorial de nossas livrarias. Neste sentido, falar sobre a diminuição de leitores de livros talvez seja a mesma coisa que falarmos sobre a diminuição de consumidores de discos ou CDs, ou do público que consome cinema via DVDs. Diferentemente do diagnóstico de Walter Benjamim (1892-1940), em seu clássico artigo “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (1936), o que temos hoje é a obra de arte na época de sua infinita reprodutibilidade técnica. A escrita é uma tecnologia de gravação da memória externa humana. Ela está presente desde uma tábua de argila suméria até um tablet ou um celular, passando por tantos outros suportes físicos, pedras, couros, papel, madeira etc. Todos esses suportes carregam ou carregaram a escrita e a literatura e possibilitam a leitura. E o suporte digital? O triunfo da informalidade A professora Eliana Yunes faz uma diferenciação entre leitura solidária e leitura solitária, que interessa muito neste momento único da história da tecnologia. A leitura solidária precede a escrita. É a leitura ao redor do fogo, circular, coletiva. A leitura solitária, dos livros, é produto da invenção da imprensa e que teve seu predomínio por cerca de 500 anos. Com o digital, voltamos a ver o crescimento de uma leitura solidária, ou seja, articulada com outras leituras, coletiva e em rede, pressionando não apenas a ideia de leitura solitária, como também a de livro e a de autoria. Junto com isso, há o triunfo da informalidade, ou seja, a dissolução de fronteiras e das legitimações do mundo analógico-formal-industrial. O símbolo máximo dessa dissolução é a convergência tecnológica na figura de um smartphone, em que o toca-discos, a máquina fotográfica, a câmera de cinema e o livro estão em um produto (suporte) só, de base digital. Com essa convergência avassaladora, tudo o que é formal se desmancha no ar do digital – para o bem e para o mal. O grande risco que corremos é a hiperinformalidade destruir as legitimações e com isso o lugar do livro e da educação. Até a democracia corre o risco de sucumbir à ação direta e à hiperinformalidade. Vivemos um momento em que a última geração dos nascidos no mundo analógico, dos livros, se encontra com as primeiras gerações dos nascidos no ambiente digital, os nativos digitais. A próxima geração já não terá mais contato com os nascidos na era tipográfica. Daí a enorme responsabilidade de se passar a essas novas gerações uma defesa do livro, este que é o lugar dos longos encadeamentos lógicos e estéticos, fundamental numa época de fragmentação e de desatenção. Essa defesa, no entanto, não pode ser binária ou disjuntiva, mas sim conectiva, em relação com essa nova realidade. Precisamos entender melhor o mundo digital, observar não apenas suas potencialidades sinistras (em 1924, I.A. Richards, em “Princípios de Crítica Literária”, dizia: “não sondamos ainda as potencialidades sinistras do cinema e do autofalante”, preocupado com os impactos das novas tecnologias de sua época na literatura), mas também suas possibilidades conectivas e seus impactos na dimensão cidadã, nas novas expressões simbólicas e na diversidade estética. Para essa defesa, precisamos também colocar em perspectiva a própria ideia de livro, não apenas de maneira romântica ou idealizada, mas considerando o que ele é na realidade, como produto cultural. Necessitamos pensá-lo em suas dimensões econômica, cidadã e simbólica (estética, criativa). Também devemos colocar em perspectiva o tipo de leitura que se pratica tanto em relação aos livros quanto no mundo digital. Para isso, é necessário propor novas perguntas, ampliando o universo que já conhecemos para dentro dessa realidade cultural, econômica e tecnológica que se impõe. O digital trouxe um ambiente singular ao triângulo do sistema literário “autor-obra-público”, de Antonio Candido. Ele criou um entorno não linear, ponto a ponto, descentralizado, fluido e uma nova economia, compartilhada, digital e colaborativa, que afeta os três elementos do sistema. Como não poderia deixar de ser, a tríade do sistema de Candido traz implícito um intermediário, o editor, que faz materialmente a obra (livro) e se encarrega de oferecê-la ao público leitor. Por ser o dono do meio de reprodução, é ele o elo mais forte da cadeia da economia do livro e muitas vezes condiciona os outros dois elementos (o autor que será publicado e o tipo de obra oferecida para a leitura do público). No entanto, se na era industrial esse intermediário era o único que garantia a produção do livro e sua distribuição ao público, hoje, com a obra de arte na época de sua infinita reprodutibilidade técnica, ele já não é mais elemento incontornável para que o público tenha acesso à obra literária, ou mesmo a produza. No mundo digital, em certos casos, até nem mais existe. Isso sem entrar no tema da Inteligência Artificial (IA), que nos coloca outros elementos ainda mais complexos em termos de produção textual, distribuição e leitura. Poderíamos, por exemplo, perguntar sobre os impactos dessa desmaterialização nos três grandes campos que formam a base de uma política cultural contemporânea: a economia (o livro e sua indústria); a cidadania (a leitura) e o valor simbólico, estético, criativo (a literatura). Se a leitura e a literatura existem antes do livro e independem do seu suporte, a atual desmaterialização do suporte livro impacta negativamente a cidadania e o estético? Traz menos diversidade? Impacta a qual ponto na cidadania? E os livros físicos? Seriam eles os únicos guardiões da diversidade e da perspectiva cidadã? Os livros não vão morrer, certamente. Continuarão, ao lado das novas tecnologias, mas que significado terão para o mundo em que entramos com tanta velocidade? De acordo com o que vemos nas edições da Retratos da Leitura no Brasil, hoje, do ponto de vista de um conteúdo crítico, cidadão ou estético-criativo, não parece haver superioridade no que está sendo lido nos livros na comparação com o universo digital. Basta ver em todas as edições da pesquisa a lista dos títulos que os brasileiros dizem ter consumido. Muito dificilmente a última lista, com livros de autoajuda, entretenimento, liderança e mesmo religiosos é superior qualitativamente em comparação com o que se lê num celular ou tablet, mesmo que em fragmentos. Sem uma pesquisa aprofundada desse universo só podemos fazer conjecturas, mas no mínimo o que se lê no digital é parecido com o que os brasileiros têm lido no suporte livro. O fato é que não temos dados para dizer que a leitura no ambiente digital é ou não menos interessante e impactante do ponto de vista simbólico, cidadão, educacional e cultural. Por se tratar de economia e de negócios (legítimos, é claro), em qualquer parte do mundo o conteúdo cidadão ou de diversidade estética não é exatamente o que norteia mais centralmente os mercados. Basta ver a lista dos mais vendidos em qualquer país do mundo. Os best-sellers, com louváveis exceções, não têm trazido exatamente um aprofundamento crítico e ampliador de nossa ideia de sociedade e de mundo, e talvez não sejam um grande exemplo de invenção e experimento estético. Eles certamente têm seu valor. Formam leitores. São lidos, fruídos e levam emoção e prazer. Mas eles seriam superiores ao que está sendo lido no ambiente digital? Em setembro do ano passado, o então ministro da Cultura da Colômbia, Juan David Correa, fez uma intervenção importante na Bienal do Livro de São Paulo. Na ocasião, ele perguntou aos editores presentes no auditório qual a responsabilidade do mundo editorial no aprofundamento da democracia? Deu como exemplo os livros publicados em seu país. Segundo ele, dos 50 títulos mais vendidos, 48 tinham como tema liderança, competitividade, empreendedorismo, individualismo e autoajuda. Por que não havia entre os livros mais vendidos aqueles que trazem valores mais coletivos e solidários, de debates sobre os temas que mais impactam a sociedade? Os livros não são bons, em si, pelo fato de serem livros, segundo Juan David. No Brasil, temos uma grande diferença. Aqui, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), compra cerca da metade dos livros produzidos em nosso país (quase 40% do faturamento). Além de seu impacto econômico, essas compras equilibram os valores estéticos e cidadãos, porque suas coleções são formadas por meio de comissões de especialistas, que não tratam o livro exclusivamente do ponto de vista do mercado. Isso é bom para todos, diversifica a produção e amplia a bibliodiversidade brasileira. A importância desse programa é enorme para um país com ainda baixos índices de alfabetização e de compreensão plena de um texto complexo – resultado de 300 anos de proibição de se fazer livros aqui, além de 400 anos de escravidão. O gênero livro O escritor argentino Julio Cortázar (1914-1984) dizia haver um “gênero livro”, ou seja, o próprio suporte determinaria a forma, ficcional no caso. O fato é que o livro, como gênero ou como suporte, é, como já falamos, o lugar privilegiado dos longos encadeamentos lógicos e estéticos. É também o lugar por excelência da narração complexa, a formar “uma espécie de todo”, de fechamento e de conclusão. O filósofo coreano Byung-Chul Han, em Favor fechar os olhos – em busca de um outro tempo (Editora Vozes, 2024) defende a narração contra o “liso da tela” e sua rolagem infinita. Ele afirma que os processos narrativos escapam à aceleração, ao instituírem um tempo próprio, interno. É impossível acelerar uma leitura sem perder as nuances, as profundidades e os encadeamentos de uma história. As narrações (histórias escritas ou contadas, os filmes, as peças de teatro, as letras de músicas) instituem um tempo próprio, separado do tempo real e muito longe da vertigem digital. O digital é aditivo, não conclusivo, para Han. A falta de conclusão, de fim, do ponto de vista da saúde, é perturbadora e fator de geração de ansiedade, o que todo pai e mãe de crianças e adolescentes em nosso tempo tem percebido e sofrido. O livro permite sentidos e fins (mesmo os de finais abertos), mas fundamentalmente aqueles livros com impactos estéticos, criativos. Como dizia Umberto Eco em Seis passeios pelos bosques da ficção (Companhia das Letras, 2002), “o texto é uma máquina preguiçosa, esperando que o leitor faça a sua parte”. Poderíamos nos perguntar: diante de suportes mais interativos, eficientes, que fazem tudo, sons, imagens, ideias, quem, então, é o preguiçoso? A leitura atenta, exigente, dos códigos escritos é fundamental para a constituição de um sujeito autônomo e crítico, influindo na capacidade de absorvermos complexidades e de desenvolver o pensamento abstrato, como por exemplo Walter Ong (1912-2003) observou em Oralidade e Cultura Escrita (Papirus, 1998). Por ser uma tecnologia de baixo estímulo, a escrita nos brinda com uma possibilidade única ao nos exigir que nós mesmos façamos as imagens, os sons e os sentidos. Ela é uma tecnologia precária e é justamente essa precariedade sua riqueza maior, porque nos constrói como sujeitos na interação com ela. Mas será que ela também não está presente de alguma forma no mundo digital, apesar das redes sociais e dos vídeos cada vez mais curtos? A questão a saber é se, às margens da interação heterônoma, desatenta e hipnótica do digital, não está se desenvolvendo também uma leitura digital e analógica, coletiva, solidária, feita em rede, trazendo à tona novas perspectivas sobre o Brasil e o mundo, a partir de novos sujeitos políticos e culturais, antes invisibilizados. Apesar da história da educação no Brasil, um país de megadiversidade cultural e de megadesigualdade social, as periferias têm oxigenado o debate cultural e literário brasileiro. E isso tem a ver também com a apropriação da tecnologia digital por essas populações e o uso criativo e autônomo que muitas vezes têm vindo à tona com elas. Precisamos chegar mais perto de como essas leituras são feitas, porque elas qualificam o que pensamos sobre leitores no Brasil, para muito além dos livros do mercado editorial tradicional. Há uma emergência de novos sujeitos políticos e culturais ocupando a cena com suas leituras de mundo e suas escritas, devido às possibilidades do mundo digital e da desintermediação, do comum. Há certo tempo, era comum pensarmos na tríade estado, mercado e sociedade civil, os “ponto gov”, “ponto com” e “ponto org”. Agora há uma outra categoria, o comum, o que aproveita a tecnologia digital para sua expressão e fruição simbólicas e para a invenção de novas formas de ser e viver, do ponto de vista cidadão, simbólico e econômico. É preciso aproximar-se dessas manifestações e enxergar com mais qualidade os novos usos e leituras que dali emergem. É isso o que se percebe nos inúmeros saraus, coletivos articulados na Periferia Brasileira de Letras (PBL), nas redes de bibliotecas comunitárias, pontos de leitura, pontos de cultura, Agência de Notícias das Favelas, Flup etc. São digitais e analógicos, ao mesmo tempo. Digitalógicos, não uma coisa ou outra. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Gasto com saúde no Brasil é a metade do necessário, aponta estudo do SenadoJanaína MichalskìPara se alinhar à média internacional de gastos em saúde, o Brasil precisa dobrar o investimento vigente: passar dos atuais 9,1% do PIB para 19%. A afirmação é do estudo “Cenários de longo prazo para a necessidade de financiamento da saúde”, da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado Federal. Apresentado nesta segunda-feira (7), em Brasília, o documento também afirma que o envelhecimento da população não é o principal fator de aumento dos custos em saúde até 2070.
Para se alinhar à média internacional de gastos em saúde, o Brasil precisa dobrar o investimento vigente: passar dos atuais 9,1% do PIB para 19%. A afirmação é do estudo “Cenários de longo prazo para a necessidade de financiamento da saúde”, da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado Federal. Apresentado nesta segunda-feira (7), em Brasília, o documento também afirma que o envelhecimento da população não é o principal fator de aumento dos custos em saúde até 2070. O estudo projeta as necessidades de financiamento do Sistema de Atenção à Saúde brasileiro nos próximos 45 anos (2025-2070), tendo em vista as mudanças no perfil demográfico da população; a dinâmica da inflação setorial, somada à introdução de novas tecnologias; e a ampliação do acesso aos serviços de saúde. Segundo o IFI, se a despesa per capita com saúde no Brasil por faixa etária fosse igual à média observada entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), passaria dos atuais R$ 5.027,5 para R$ 10.486,3, e poderia chegar a R$ 16.855,00 em 2050. A projeção considera tanto as despesas privadas quanto as públicas, incluindo todos os níveis federativos (União, estados e municípios). A análise também concluiu que o financiamento da saúde se torna fiscalmente insustentável quando são incorporados outros fatores que afetam as despesas do setor. Entre esses fatores, estão a cobertura populacional dos serviços, a inflação e a tecnologia. Assim, para Alessandro Casalecchi, analista econômico e autor do estudo, – sob a ótica do Regime Fiscal Sustentável (RFS) – o principal desafio do Brasil nas próximas décadas é alocar o orçamento da saúde tendo em vista a sustentabilidade fiscal. “O atendimento pleno da necessidade de financiamento da saúde não é sustentável, ou seja, não é compatível com o atual arcabouço fiscal, se toda essa necessidade for atendida e não houver uma realocação de gastos. O que é muito difícil, porque outros gastos estão, por exemplo, na Previdência, que é uma despesa obrigatória que também cresce impulsionada por fatores semelhantes aos da Saúde”, disse o analista. De acordo com Casalecchi, a transição demográfica, que costuma ser vista como principal causa de crescimento da necessidade de financiamento em saúde, não é o fator mais relevante no cenário brasileiro para as próximas décadas. “O envelhecimento da população vai levar a um aumento da necessidade, mas não é o protagonista desse movimento. Quando a gente inclui outros fatores, como a ampliação de cobertura do sistema público para incluir os desassistidos e também inflação e tecnologia, temos um impacto mais significativo e a necessidade de financiamento passa a crescer de forma mais acelerada”, afirmou. Leia o estudo na íntegra, neste link. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
PISO DA ENFERMAGEM: veja ranking dos municípios que recebem maiores valoresMarquezan AraújoEstados e municípios brasileiros já podem consultar os valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de abril. O montante a ser transferido chega a R$ 776.426.275,56, entre valores destinados à execução municipal e estadual. O município que conta com o maior valor é Belo Horizonte (MG). O ente recebe R$ 9,1 milhões. Em seguida está Fortaleza (CE), com R$ 6,5 milhões. A terceira cidade do ranking é Campo Grande (MS), que recebe R$ 4,7 milhões. Estados e municípios brasileiros já podem consultar os valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de abril. O montante a ser transferido chega a R$ 776.426.275,56, entre valores destinados à execução municipal e estadual. Os dados constam na Portaria GM/MS Nº 6.893, de 24 de abril de 2025. O município que conta com o maior valor é Belo Horizonte (MG). O ente recebe R$ 9,1 milhões. Em seguida está Fortaleza (CE), com R$ 6,5 milhões. A terceira cidade do ranking é Campo Grande (MS), que recebe R$ 4,7 milhões. Confira a lista das 20 cidades com maiores valores do Piso da Enfermagem
O especialista em orçamento público Cesar Lima explica que o valor que cada ente recebe não leva em conta a quantidade de habitantes, mas sim o número de profissionais que atuam naquele respectivo território. “Alguns municípios recebem mais que outros, apesar de terem a mesma população, porque podem ter contratualização, por exemplo, com uma Santa Casa ou com algum hospital que atende 60% pelo SUS. A Lei Complementar 141 diz que todos os recursos de custeio têm que passar pelos Fundos Municipais ou Estaduais de Saúde. Então, estados e municípios recebem de acordo com o número de profissionais que têm”, afirma. No geral, o maior valor foi para Minas Gerais, com R$ 4.867.626,44 para execução estadual e R$ 106.470.317,21 para execução municipal, com um valor total de R$ 111.337.943,65. Na sequência aparece Bahia, com R$ 78.113.952,49, entre valores de execução estadual e municipal. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Big Pharma: um maremoto no Norte GlobalTrump busca baratear preço dos medicamentos, por meio de incentivos para fábricas voltarem aos EUA. Em seguida, farmacêuticas com base na Europa impõem exigências perigosas para não abandonar continente. Por que essa disputa afetará o mundo inteiro? No dia 15 de abril, Donald Trump assinou mais uma de suas Ordens Executivas (OE), cujo objetivo declarado é ampliar esforços, já tentados em seu primeiro mandato, para reduzir os preços dos medicamentos prescritos. O título da OE (Presidente Donald J. Trump anuncia medidas para reduzir os preços de medicamentos prescritos) incorre em erro, na medida em que trata também de medicamentos isentos de prescrição. No meu ponto de vista, a medida parece não ir muito além de ser uma tentativa de reagir a uma anunciada queda de popularidade de seu governo. Ao longo de sua leitura, por vários motivos, nada sugere algo além dessa intenção. A ordem executiva trata da ampliação de acesso a medicamentos que, embora de grande consumo pela população, estão longe de atingir o núcleo do interesse comercial da Big Pharma. Genéricos, similares, etc. Produtos nada parecidos com imunoterapias avançadas, oncológicos de última geração e medicamentos para doenças raras, por exemplo. Mas, mesmo com relação àqueles medicamentos de consumo massivo, a ordem de Trump não diz como é que as medidas que propõe contornam a gigantesca dependência de importações desses produtos (acabados ou mesmo de Ingredientes Farmacêuticos Ativos – IFAs) da Índia e, principalmente, da China. Estima-se que metade ou mais dos genéricos e similares consumidos nos EUA são importados dos dois países asiáticos. É claro que os EUA têm capacidade tecnológica para produzir localmente todos esses medicamentos. O que não têm, atualmente, é capacidade produtiva, nem interesse comercial – isto é, empresas que os produzam nos EUA. O espírito dessa OE é estimular a política de reshoring, (transferência de fábricas para o território dos EUA). Mas, na realidade, o resultado desse reshoring é muito controverso e, mesmo que tenha algum sucesso, levará bastante tempo – certamente mais do que os quatro anos de Trump como presidente. Além disso, e muito importante, se as importações de IFAs e acabados não forem isentas das tarifas impostas por ele, os preços dos remédios vão aumentar bastante e não diminuir. Aliás, como comento em seguida, as multinacionais com unidades produtivas na Europa já estão se mexendo para enfrentar a nova conjuntura que se apresenta, solicitando afrouxamento da regulação de medicamentos no território da UE, com muito provável impacto negativo para os usuários. Farmacêuticas exigem mudanças para não deixar Europa“Com as tarifas iminentes de Trump, as empresas farmacêuticas exigem mudanças para permanecer na UE.” Sob este título, o blog Fierce Pharma, noticia propostas empresariais de ajustes na regulação europeia com vistas a poderem resistir ao tarifaço de Trump. Em outros termos, para poderem resistir ao reshoring. As empresas demandantes são Amgen, AstraZeneca, Biogen, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Gilead Sciences, GSK, Merck & Co., Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Sanofi e Takeda, todas multinacionais com fábricas na UE, a maioria de matriz norte-americana e todas negociando suas ações na Bolsa de Nova Iorque. As empresas na UE alegam que a política de reshoring custaria algo como 103,2 bilhões de euros até 2029, a menos que a Europa implemente mudanças políticas “rápidas e radicais” na regulação. E quais seriam os ajustes regulatórios demandados? 1) Repensar suas políticas de precificação de medicamentos e propiciar um ambiente comercial mais favorável para medicamentos inovadores. As contribuições da indústria para os gastos públicos com medicamentos teriam aumentado de 15% para 22% nos últimos anos, uma tendência que sugere que a indústria vem suportando o aumento dos gastos vinculados à introdução de novos medicamentos. Em termos mais claros, liberar preços de medicamentos. 2) Simplificar as regras para o desenvolvimento e registro de medicamentos e possibilitar um modelo coordenado e de aprovação única para encurtar o processo de ensaios clínicos multinacionais. Atualmente, ensaios clínicos de fase 3 devem ser realizados em vários países com vistas a garantir a avaliação da efetividade do produto em populações étnica e geneticamente diferentes. 3) Alteração das regras regulatórias relacionadas à propriedade intelectual. Isso incluiria o aumento do prazo de proteção de dados para dez anos (tempo em que as agências reguladoras não divulgam os dados relacionados ao desenvolvimento dos produtos para concorrentes), o que significa mais dois anos adicionais de proteção de mercado, bem como o aumento da exclusividade do mercado de medicamentos para doenças raras dos atuais 10 anos para 12 anos. 4) Eliminação de uma nova taxa de tratamento de águas residuais que as empresas na UE devem pagar e que impõe aos fabricantes de produtos farmacêuticos e cosméticos a responsabilidade de eliminar micro poluentes nos efluentes industriais. A importância do setor farmacêutico à IrlandaAqui, merece um comentário a situação de um pequeno país europeu que, neste século, tornou-se o principal sítio de instalação de unidades produtivas de grandes multinacionais farmacêuticas e, provavelmente, o principal alvo dessa movimentação da Big Pharma na UE – a República da Irlanda. Principalmente devido a uma muito favorável política tributária, praticamente todas aquelas empresas mencionadas acima possuem instalações fabris por lá, conforme a figura abaixo. A Irlanda exportou 100 bilhões de euros em medicamentos em 2024, pouco menos da metade para os EUA. Dentre essas exportações estão medicamentos de alto valor agregado, estes sim, situados no centro do negócio da Big Pharma. Exportações de produtos farmacêuticos representam perto de 30% do PIB da Irlanda. No meu ponto de vista, caso a Irlanda não seja excluída do pagamento das tarifas trumpianas, ela tende a se tornar um país inviável. Penso que aí é que vai ocorrer a principal queda de braço entre a Big Pharma e Trump. Bem mais importante do que a demagógica OE de 15 de abril. 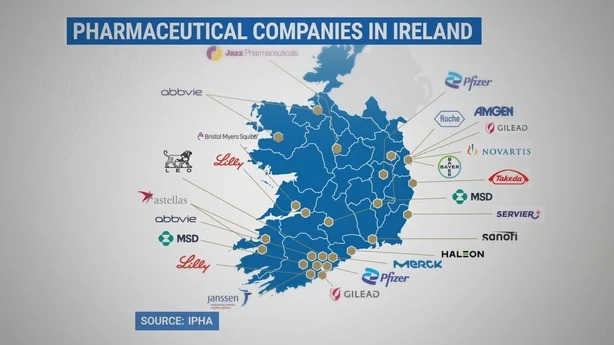 As fábricas de medicamentos situadas na Europa podem ter razão em tentar se defender do maremoto, mas essas quatro medidas gerais, sendo aprovadas, terão um grande perdedor: as pessoas que consomem medicamentos, não apenas na Europa, mas pelo mundo afora. Liberalizar as condições de registro de medicamentos (o que significa diminuir a segurança no seu uso), diminuir a concorrência (o que significa aumentar preços) e atenuar obrigações sanitárias sob a responsabilidade das empresas, talvez sejam ganha-ganha para alguns, perde-ganha para outros, mas sempre perde-perde para a cidadania e para os sistemas públicos de saúde. E, pelo lado da ordem executiva de Trump, o aumento do preço dos medicamentos também será perde-perde para a sociedade em geral. Quem perde?Termino com um comentário sobre a abordagem global do maremoto Trump. É que até agora o debate tem estado apenas no plano macroeconômico e quando chega à microeconomia fica centrado nos impactos sobre as empresas. Entretanto, será preciso avaliar, em cada caso, quem ganha e quem perde nos ajustes provocados por ele. Haverá casos em que os atritos entre o mar e a rocha farão sofrer os mariscos, como nos dois episódios que abordei neste texto. Tanto as disposições da OE de Trump quanto a movimentação da Big Pharma na Europa, caso tenham suas determinações/reivindicações implementadas, trarão impactos negativos para as populações que consomem medicamentos e outros produtos – embora seja muito pouco provável que isso aconteça nos dois casos. E não tenhamos ilusões de que este é um assunto apenas do Norte Global. Chegará aqui, tenhamos certeza disso. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Brasil: Como tornar o Cuidado um trabalho valorizado?São 25 milhões de pessoas nesta ocupação. Mas as desigualdades persistem. É preciso tratá-la como bem público – com formação adequada, salários dignos e contratos protegidos. Não restrita às mulheres e nem confinada às famílias. Diversos países mostram como fazê-lo Por Nadya Araujo Guimarães Cuidar é um ato essencial. É garantir o bem-estar e sustentar a vida de outra pessoa, o que envolve, entre tantas tarefas, atividades como preparar a comida, dar o banho. Durante a pandemia de Covid-19, essa dimensão do cotidiano ganhou visibilidade e urgência. Mas, passado o momento crítico, o cuidado rapidamente voltou a ser tratado como algo natural, quase instintivo, e próprio das relações familiares — quando, na verdade, é trabalho. Um trabalho fundamental, mas historicamente invisibilizado, desvalorizado e profundamente marcado por hierarquias de gênero, classe e raça. A partir da premissa de que o cuidado é trabalho, colegas e eu conduzimos uma ampla pesquisa internacional sobre seu provimento, marcado por custos elevados e profundas desigualdades. O objetivo foi entender como diferentes sociedades organizam a oferta de cuidado remunerado, como a pandemia afetou essa ordem e de que modo, sob distintos regimes de bem-estar, as formas de organização social do cuidado no pós-pandemia se reconfiguraram. Buscamos mapear quem cuida, em que condições e com quais vínculos, revelando os contornos deste campo de trabalho. No centro da nossa análise esteve o reconhecimento da heterogeneidade das formas que o trabalho de cuidar pode assumir. Foi essa diversidade que nos levou à necessidade de construir uma tipologia capaz de organizar esse campo múltiplo, marcado por diferentes arranjos e intensidades. Chamamos essa proposta de “halos do cuidado” — uma imagem que remete à ideia de camadas concêntricas, nas quais variam a intensidade, a pessoalidade e a domesticidade do cuidado prestado. A tipologia permite classificar as ocupações segundo três critérios fundamentais: o tipo de interação (direta ou indireta), a frequência (recorrente ou eventual) e o espaço em que o cuidado se realiza (doméstico ou não doméstico). De acordo com esses parâmetros, identificamos cinco grandes grupos ocupacionais, organizados segundo o grau de proximidade com quem recebe cuidado — do mais próximo ao mais distante da relação pessoal e cotidiana. Modelo brasileiro aprofunda desigualdadesA aplicação dessa metodologia ao caso brasileiro trouxe informações contundentes. Em 2023, o trabalho de cuidado remunerado mobilizava cerca de 25 milhões de pessoas — o equivalente a um quarto da força de trabalho do país. No núcleo mais íntimo, denso e cotidiano desse mercado — o cuidado doméstico, direto e recorrente — predominavam, de forma marcante, as mulheres negras. Segundo dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – IBGE), elas representavam 62% das trabalhadoras do cuidado direto e 61% do cuidado indireto realizados no domicílio. E são justamente essas trabalhadoras que enfrentam as condições mais adversas: remunerações baixas (menos de sete dólares por hora, em média), jornadas extensas e escassa proteção social. A formalização é mínima. Apenas 21% das mulheres que prestam cuidado direto no domicílio estão inscritas na Previdência. No caso do cuidado indireto doméstico, esse percentual é similar: meros 25%. A comparação com outros países torna ainda mais evidente o caráter estruturante dessas desigualdades. Na França, por exemplo, o provimento do cuidado externalizou-se largamente em relação ao domicílio, deslocando as atividades de cuidado do âmbito doméstico para instituições ou serviços organizados fora das residências. Esse processo implica a transferência, parcial ou total, do cuidado familiar para arranjos públicos ou mercantis, mediado por políticas, organizações e vínculos formais de trabalho. Neste país europeu, o Estado desempenha papel central no financiamento e regulamentação do cuidado, sobretudo nas áreas de saúde e educação infantil. Ali, o mercado é intermediado por empresas e associações, mas o trabalho é regulado, há exigência de certificações e a ele se associam direitos e proteções. Na Colômbia, diferentemente, destaca-se o peso do mercado, onde é forte a presença de contratos por tarefa em um contexto de baixa participação estatal. O Brasil parece configurar um outro arranjo: entre nós, chama a atenção o papel das famílias na contratação direta de cuidadoras e trabalhadoras domésticas. Ao mesmo tempo, assistimos ao avanço rápido de intermediadores do trabalho domiciliar, como empresas-plataforma e serviços de homecare. É um crescimento que ainda escapa às estatísticas oficiais, mas reconfigura silenciosamente o campo do cuidado. Isso cria uma situação ambígua: se é certo que somos um país onde os valores “familistas” são muito fortes, e estão sublinhados na própria Constituição, os dados também indicam a presença significativa do Estado nas áreas institucionalizadas do cuidado. Ainda assim, persiste a contratação direta de mulheres, majoritariamente negras e pobres, mobilizadas no cuidado cotidiano que se faz nas residências. Em outras palavras, vivemos um processo em que a mercantilização do cuidado parece não ter a equivalente externalização das tarefas em relação ao domicílio, um modelo que não apenas mantém, mas aprofunda as desigualdades de classe, raça e gênero. O estudo também mostra que há uma forte polarização nas condições de trabalho nos diferentes “halos” do cuidado. À medida que nos afastamos do cuidado direto e doméstico, e nos aproximamos de funções exercidas no espaço público, em instituições governamentais ou privadas (como enfermeiras, professoras, médicas), aumentam os salários, a escolaridade média e a proporção de vínculos formais. Também há maior presença de homens e de pessoas brancas. Isso revela um mercado segmentado, que atribui menos valor (simbólico e monetário) ao cuidado mais íntimo, repetitivo e invisibilizado — justamente aquele que mantém o cotidiano de milhões de famílias. Reconhecer o cuidado como trabalho é o primeiro passo para enfrentar as desigualdades. Mas isso não basta. É preciso ampliar e qualificar as políticas públicas direcionadas aos que cuidam: garantir formação adequada, remuneração digna, contratos protegidos, reconhecimento social. É urgente tratar o cuidado como bem público e como uma responsabilidade coletiva — não apenas restrita às mulheres e nem confinada às famílias. Nosso estudo não buscou apenas responder à pergunta “quem cuida de quem cuida?”, mas propõe que essa pergunta seja recorrentemente feita e reiterada. E que ela oriente a construção de políticas mais justas, mais eficazes e, sobretudo, mais humanas. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Em meio ao alerta sobre vírus respiratórios na China, médicos brasileiros se preocupam com dengue e ChikungunyaLívia BrazEnquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) está de olho em mais um vírus respiratório originado na China, as autoridades médicas brasileiras têm outra preocupação: as doenças causadas pelo Aedes aegypti — como dengue e chikungunya. O cuidado não é em vão. Em 2024, o país bateu recorde de casos e de mortes por dengue Enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) está de olho em mais um vírus respiratório originado na China, as autoridades médicas brasileiras têm outra preocupação: as doenças causadas pelo Aedes aegypti — como dengue e chikungunya. O cuidado não é em vão. Em 2024, o país bateu recorde de casos e de mortes por dengue. Segundo o Ministério da Saúde, até 28 de dezembro passado foram 6,6 milhões de casos prováveis da doença e 6.022 mortes confirmadas. Outras 1.179 estão sendo investigadas. Só este ano, já são mais de 10 mil casos prováveis e 10 mortes em investigação. Segundo o médico sanitarista e professor da Universidade de Brasília, Jonas Brant, Estados Unidos, Europa e China vivem momentos diferentes do Brasil por conta da sazonalidade, por isso a preocupação maior deles neste momento é com as doenças respiratórias. “No caso do Hemisfério Sul, onde o Brasil está inserido, a gente tem nessa época do ano, o aumento de outras doenças, como as doenças transmitidas por vetores, as diarreias. Então é importante a gente entender que, nesse contexto, eles estão num cenário preocupante, tá aumentando lá e tem que se organizar para enfrentar um surto de doença respiratória. No nosso caso, o risco maior agora do Brasil é a preocupação com dengue e Chikungunya”, destaca o médico. Ministério da Saúde monitora surto de vírus respiratório na China e reforça medidas de prevenção O que esperar para 2025Diante do surto recorde de 2024, o governo federal se antecipou nas ações de prevenção. Além da vacinação contra a doença, que cobriu jovens entre 10 e 14 anos, para o período sazonal 2024-2025, o Ministério da Saúde anunciou o investimento de mais de R$ 1,5 bilhão na compra de mais doses da vacina. Valor que também será usado para a compra de insumos laboratoriais para ampliar a testagem, medicamentos para controlar a proliferação do mosquito e ainda mobilização e conscientização da população, além de suporte aos municípios para custeio assistencial. Para o sanitarista, o que vivemos em 2024 não deve se repetir esse ano. “Nós tivemos um grande surto no ano passado que, esse ano, não deve se repetir naquelas proporções. Mas, sim, um surto acima do normal pode ser esperado”, alerta. Na primeira semana do ano, o ministério também divulgou uma nota técnica com recomendações aos gestores estaduais e municipais. Como a maior parte das cidades brasileiras têm gestores novos este ano, o documento — direcionado a esses gestores — reforça a necessidade de monitoramento constante do cenário epidemiológico, além da implementação de medidas de controle de vetores e preparação das redes de saúde já nos primeiros meses de 2025. “É um momento muito crítico para a vigilância em saúde. É importante que essas secretarias se organizem muito rápido para poder colocar essa estrutura em funcionamento. Detectar casos, saber onde está a circulação do vírus, para poder organizar as equipes de respostas para conter a transmissão. Transparência da informação também é muito importante, ou seja, saber onde estão ocorrendo os casos no município, em quais bairros a transmissão está maior, para que naqueles bairros a gente tenha uma organização mais forte para o enfrentamento.” O médico lembra que a mobilização da comunidade, o engajamento dos moradores e do comércio, além de todos os atores sociais são fundamentais para evitar um novo surto da doença. 10 minutos contra a dengueO Ministério da Saúde aposta no apoio da sociedade para o combate ao mosquito — já que a participação de todos é fundamental para a eliminação dos focos — que continua sendo a forma mais efetiva de evitar a doença. A campanha nacional de conscientização, lançada no ano passado, incentiva a população a dedicar 10 minutos por semana para fazer uma busca em casa e controlar os focos do Aedes aegypti. Usar repelentes e telas mosquiteiras em portas e janelas também são medidas que ajudam a reduzir o número de infecções pela doença. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Dengue: ressurgimento do sorotipo 3 pode agravar surtos da doença no paísBianca MingoteO sorotipo 3 (DENV-3)da dengue não tem incidência relevante no Brasil desde 2008, por isso o ressurgimento desse tipo da doença pode agravar surtos da doença no Brasil. É o que alerta pesquisadores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) em artigo publicado no Journal of Clinical Virology. O agravamento pode ocorrer devido à população não estar imunizada contra essa linhagem e, ainda, os sorotipos 1 e 2 (DENV-1 e DENV-2) seguem em circulação. O sorotipo 3 (DENV-3) da dengue não tem incidência relevante no Brasil desde 2008, por isso o ressurgimento desse tipo da doença pode agravar surtos da doença no Brasil. É o que alerta pesquisadores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) em artigo publicado no Journal of Clinical Virology. O agravamento pode ocorrer devido à população não estar imunizada contra essa linhagem e, ainda, os sorotipos 1 e 2 (DENV-1 e DENV-2) seguem em circulação. O professor da Famerp e um dos autores do estudo, Maurício Lacerda Nogueira, disse à Agência Fapesp que em meados de 2024 os casos de DENV-3 começaram a subir e que hoje é o principal agente detectado no município de São José do Rio Preto. “A última epidemia significativa de DENV-3 no Brasil e, mais especificamente, em São José do Rio Preto, ocorreu há mais de 15 anos [em 2007]. Já os sorotipos DENV-1 e DENV-2 continuam circulando continuamente pelo país. Se o sorotipo 3 se estabelecer novamente e prevalecer esse quadro [de cocirculação de variantes], isso pode levar a formas severas de uma epidemia de dengue. É exatamente essa situação que estamos vivendo neste momento em São José do Rio Preto”, afirmou O professor Nogueira elucidou que uma epidemia pode acontecer quando surge um sorotipo diferente, já que ocorre o escape da imunidade anterior das pessoas. “Estamos estudando dengue no Brasil desde 2010 e o padrão epidemiológico é semelhante ao que aconteceu com o SARS-CoV-2 durante a pandemia de COVID-19. Quando aparece um sorotipo diferente ocorre o escape da imunidade pregressa da população e acontece uma epidemia logo em seguida. Estamos vendo isso agora com a DENV-3”, disse Nogueira. Os pesquisadores vêm realizando nos últimos 20 anos a vigilância genômica e epidemiológica de dengue e outras arboviroses em São José do Rio Preto, por meio de um projeto apoiado pela Fapesp. O professor Nogueira aponta que o tempo quente e úmido na cidade propicia a proliferação do mosquito e, ainda, um local relevante para monitoramento. “A temperatura média anual em São José do Rio Preto é de pouco mais de 25 graus e chove aproximadamente 2 mil milímetros por ano. Essa combinação de tempo quente e úmido cria condições ideais para a formação de reservatórios de mosquitos transmissores de arbovírus e um local propício para o monitoramento genômico e epidemiológico de arboviroses, como a dengue. E como trabalhamos aqui há muito tempo, conseguimos fazer inferências epidemiológicas melhores”, explicou Lacerda. Sorotipo 3 da dengueA dengue possui 4 sorotipos diferentes e a infecção por um sorotipo gera imunidade somente à variante, mas não impede uma nova infecção por um sorotipo diferente. O infectologista coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Anchieta, Henrique Lacerda, afirma que a diferença entre todos esses sorotipos basicamente é genética. Ou seja, todos os tipos causam os mesmos tipos de sintomas, mas o diferencial é que o DENV-3 tem maior potencial para causar surtos, além de estar relacionado aos casos mais graves da doença. O especialista Henrique Lacerda ressaltou que a circulação do DENV-3 no país é preocupante, tendo em vista que as pessoas não têm imunidade contra essa linhagem, “Consequentemente, as pessoas que já tiveram alguma dengue por um outro sorotipo, um ou dois, por exemplo, podem evoluir para formas mais graves por causa da resposta imunológica mais forte, mais exacerbada e isso pode levar a um aumento do número de casos e acabar sobrecarregando o serviço de saúde, com mais internações, pacientes mais graves e até óbito”, mencionou o infectologista. Sinais de alerta que a população deve ficar atenta:
Caso apresente esses sintomas, o paciente deve procurar atendimento médico para ser orientado e receber o tratamento correto. Ministério da SaúdeNo último dia 22, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, realizou uma reunião com representantes de conselhos, da sociedade civil, sindicatos, federações e outras instituições para discutir ações estratégicas e monitoramento do cenário epidemiológico da dengue em todo o país. A reunião foi realizada na sede do Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses, em Brasília. A ministra manifestou sua preocupação de o COE estar próximo às prefeituras. Além disso, destacou que os agentes ali reunidos deveriam compartilhar o que foi debatido com vistas a combater desinformações sobre a doença. E que o enfrentamento à dengue deve ser feito de forma conjunta pelos gestores, sociedade e pelos líderes do governo. “Cada um de nós precisa ser um comunicador daquilo que nós discutimos e chegarmos à conclusão nessas reuniões aqui do Centro de Operações. Isso porque há muita desinformação e muitos mitos sobre a dengue”, afirmou a ministra. Os riscos e a vigilância sobre o sorotipo 3 da dengue também foram focos na reunião, tendo em vista o potencial dessa linhagem causar formas graves da doença. Os participantes reforçaram que, com a circulação dos quatro sorotipos no país, é importante intensificar as medidas de prevenção, especialmente no controle ao mosquito transmissor com algumas ações, como:
Nísia Trindade também anunciou a integração entre os Ministérios da Saúde e da Educação nas ações de controle das arboviroses, por meio do Programa Saúde na Escola. “Queremos ter a escola como espaço livre de dengue e conscientização”, ressaltou em entrevista a jornalistas no final do evento.
Com informações da Agência Fapesp | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Cobertura vacinal supera a meta de 95% em várias cidades do BrasilNathália Ramos GuimarãesNos últimos dois anos, a cobertura vacinal cresceu no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que houve um aumento no número de municípios que superaram a meta de 95% de imunização para as vacinas essenciais do calendário infantil. Nos últimos dois anos, a cobertura vacinal cresceu no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que houve um aumento no número de municípios que superaram a meta de 95% de imunização para as vacinas essenciais do calendário infantil. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é um exemplo desse avanço. Em 2024, a primeira dose foi aplicada em 3.870 municípios, superando as 2.485 cidades de 2022, o que representa um aumento de 55,7%. Apenas em Sergipe, o número de municípios que atingiram a meta na primeira dose subiu de 28 para 47. Na segunda dose, o aumento foi de 11 para 26 municípios. O número de cidades que atingiram a meta da Vacina Oral Poliomielite (VOP) também cresceu. Em nível nacional, o número de cidades com a cobertura da VOP passou de 1.466 em 2022 para 2.825 em 2024, um aumento de quase 93%. O país está há 34 anos sem a doença, graças à vacinação em massa da população. Henrique Lacerda, infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Anchieta, explica que é necessário ampliar a cobertura vacinal, pois isso evita que doenças que já foram eliminadas ressurjam. “E essas doenças que já foram eliminadas ou controladas, principalmente no Brasil, como a poliomielite, o sarampo, elas podem voltar a circular caso a vacinação não atinja níveis adequados. E além de proteger diretamente a pessoa que recebe a vacina, a imunização em massa, ela cria uma barreira que conta como uma proteção coletiva”, informa. O infectologista afirma que assim é possível reduzir a cadeia de transmissão de agentes infecciosos e proteger aqueles que não podem ser vacinados por algum motivo, principalmente recém-nascidos e pessoas mais suscetíveis a doenças. DesafiosO infectologista destaca que, apesar do avanço na cobertura vacinal, o Brasil ainda enfrenta diversos desafios. Ele aponta que a desinformação é um dos principais obstáculos, já que contribui para a hesitação vacinal e a disseminação de mitos sobre as vacinas. “Outro ponto crucial é a necessidade de campanhas constantes para conscientizar a população sobre a importância de vacinar. A gente precisa combater a falsa informação, e também a falsa segurança em relação a doenças erradicadas”, ressalta. Além disso, Henrique Lacerda aponta que barreiras logísticas, como o acesso limitado a unidades de saúde em regiões remotas, também impactam negativamente nos índices de vacinação. O Brasil vinha enfrentando quedas na cobertura vacinal desde 2016. Com o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, em 2023, o país reverteu esse cenário. Em 2024, 15 das 16 vacinas recomendadas para o público infantil registraram aumento. Em 2024, o Ministério da Saúde anunciou um orçamento superior a R$ 7 bilhões para o Plano de Vacinação de 2025. Esse valor possibilita a compra de pelo menos 260 milhões de doses, garantindo o abastecimento em todo o território nacional. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Três pontos que bloqueiam o Tratado dos PlásticosCom impasse nas negociações, acordo ambiental decisivo não se concretizou. Mas sem os pontos “polêmicos” – redução na produção, fim do uso de químicos tóxicos e recursos para transição econômica no Sul Global – seu texto será inócuo Por Steve Fletcher e Samuel Winton, no The Conversation | Tradução: Guilherme Arruda Impulsionadas pelas Nações Unidas, as negociações de um tratado global para acabar com a poluição por plásticos foram encerradas em 1º/12 sem que um acordo tenha sido alcançado. Uma nova rodada de negociações deve ocorrer em meados de 2025. Fracassaram as discussões em torno de um teto para a produção de plástico, restrições ao uso de certos produtos químicos em plásticos e apoio financeiro para ajudar os países em desenvolvimento a buscar alternativas menos poluentes. Todas essas propostas foram firmemente contestadas pelo autodenominado “grupo de países com ideias semelhantes”, formados pelos grandes produtores de petróleo, que contam com poderosos defensores internos dos setores petroquímico e químico e para os quais o plástico oferece um mercado em rápido crescimento. Embora nenhum acordo tenha sido fechado em Busan, Coreia do Sul, onde as negociações ocorreram, houve um sentimento de determinação renovada para criar um tratado de plásticos ambicioso e robusto. Em um momento memorável do debate, um delegado de Ruanda discursou sobre a necessidade de reduzir a produção de plástico para enfrentar a poluição crescente e foi aplaudido de pé. Ao ler uma lista de 95 países que apoiam uma transição global para a eliminação de produtos plásticos que contém produtos químicos perigosos, um delegado do México também recebeu aplausos prolongados das delegações alinhadas. O espírito de colaboração e multilateralismo era palpável. Durante a reunião, os países que apoiam as obrigações legais de reduzir a poluição plástica se recusaram a aceitar um tratado limitado a medidas voluntárias. O tratado deve tomar medidas em cada estágio do ciclo de vida de um item plástico, eles defendem – e isso inclui reduzir a quantidade de plástico produzido. Por sua vez, o “grupo de países com ideias semelhantes” priorizava o melhor gerenciamento de resíduos e reciclagem, omitindo o fato de que a superprodução excessiva de plástico deve sobrecarregar até mesmo os sistemas mais avançados de processamento. Observadores também criticaram a maneira como os povos indígenas foram marginalizados durante as discussões, sem acesso às negociações a portas fechadas. O texto do rascunho do tratado também não abordou a igualdade de gênero e a equidade intergeracional. Ao fim da noite de discussões, os delegados concordaram que o quinto comitê de negociação intergovernamental se reuniria novamente em 2025 para continuar desenvolvendo o texto de um tratado para acabar com a poluição plástica. Mais importante: os delegados concordaram que a próxima rodada de negociações se baseará no progresso feito em Busan e não retornará a rascunhos mais antigos. Muitas questões ainda precisarão ser debatidas nas negociações retomadas em 2025. A seguir, apresentamos três das mais significativas. Recursos para o Sul GlobalOs países em desenvolvimento precisam de recursos para promover uma transição econômica que reduza sua dependência dos plásticos poluentes. No entanto, praticamente não há consenso sobre como essas verbas devem ser transferidas. Há uma divergência forte sobre a criação de um novo fundo global dedicado à questão dos plásticos, a ser financiado pelos países desenvolvidos. A alternativa proposta é a utilização de mecanismos já existentes, como o Fundo Global para o Meio Ambiente. O rascunho do tratado também menciona a criação de taxas ou impostos à produção de plásticos, ação que muitos delegados defendem ser essencial para angariar os recursos necessários à implementação do tratado global. Para muitos países produtores de plásticos, essa é uma medida inaceitável — pois a veem a medida como punitiva e custosa para o comércio. Um plano para reduzir a produção de plásticoA “coalizão de altas ambições”, co-presidida por Ruanda e Noruega, considera essenciais as medidas para a redução da produção de plásticos, uma posição sustentada por sólidas evidências científicas. Nesse sentido, uma ousada proposta foi apresentada pelo Panamá, exigindo dos países a adoção de metas que reduzam a fabricação de polímeros plásticos primários a níveis sustentáveis a partir da adoção do tratado. No entanto, metas para a redução da produção de plásticos também fora consideradas inaceitáveis pelos países ricos em petróleo. Na plenária final, pronunciamentos do “grupo de países com ideias semelhantes” e do grupo árabe deixaram bem claro que tais medidas não seriam aceitas. Acabar com o uso de produtos químicos perigososPesquisas apontam que, dos mais de 16 mil produtos químicos utilizados ou presentes nos plásticos, faltam informações de segurança para mais de 10 mil deles — e 4,2 mil dos outros são considerados preocupantes. A regulação efetiva do uso de produtos químicos em plásticos precisa ser a base do tratado dos plásticos. Contudo, a despeito do apoio de mais de 100 países a propostas apresentadas para uma transição global que elimine os químicos nocivos à saúde, o rascunho do acordo só toca no problema de passagem. Encontrar as concordâncias necessárias para o texto de um tratado que acabe com a poluição plástica é difícil. O tempo extra para as negociações não garantirá um acordo ambicioso, mas abre espaço para discussões que podem destravar a possibilidade de um consenso nesse que é um dos mais críticos dos desafios globais. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | A destruição da Saúde de Gaza, em números e crimesRelatórios produzidos por ONU e Médicos Sem Fronteiras atestam que instalações e profissionais de saúde foram alvo preferencial dos ataques. Com cessar-fogo, é hora de aumentar a pressão internacional pela punição pelos crimes de guerra de Israel Na última quarta-feira (15/1), foi anunciado um acordo de cessar-fogo entre as forças da resistência palestina e o exército de Israel. Hoje, momentos antes da publicação deste texto, o gabinete israelense deu seu aval à trégua. Ainda restam algumas etapas à sua implementação, mas há chances reais de que ela ponha um fim – ainda que possivelmente temporário – à carnificina que se abateu sobre a Faixa de Gaza nos últimos 15 meses. Pelo menos 46,7 mil palestinos foram assassinados pela máquina de guerra israelense durante esse período, de acordo com a última contagem do Ministério da Saúde de Gaza. Um estudo recém-publicado na Lancet sugere que há uma subnotificação de pelo menos 41% nas mortes violentas, e estima que o número mais provável é de cerca de 65 mil óbitos. Desse contingente, três quintos seriam mulheres e crianças. A análise não inclui aqueles que faleceram de forma indiretamente ligada ao conflito (como de fome, frio ou por falta de cuidados médicos), soma que ampliaria ainda mais essa cifra. Contudo, a campanha de devastação não infligiu apenas enormes perdas humanas na Palestina. Entre o final de dezembro e o início de janeiro, foram divulgados dois importantes documentos que trouxeram novos detalhes sobre outra prática das tropas invasoras de Israel: a sistemática destruição de hospitais e demais instalações sanitárias de Gaza, acompanhada da transformação dos trabalhadores da saúde em alvo prioritário das bombas. Uma atualização do informe da organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) enumera os “bombardeios, batidas e incursões” de “um ano de ataques incessantes à saúde da Palestina”, em especial os que atingiram suas próprias instalações. Por sua vez, um relatório produzido pelas Nações Unidas também conta com uma análise jurídica das inúmeras violações do caráter de proteção aos hospitais e ao pessoal médico, além de outras infrações. A seguir, Outra Saúde apresenta as estatísticas dos danos causados e as conclusões da ONU – que neles vê uma série de “potenciais crimes”, inclusive contra a humanidade, que podem pôr Israel e seus líderes no banco dos réus pela destruição da saúde de Gaza. Uma destruição intencional e sistemática Como aponta a publicação da MSF, longe de estar sendo acidentalmente atingido pelas bombas israelenses, o sistema de saúde da Faixa de Gaza foi “sistematicamente desmantelado” nos últimos 15 meses. Parte da prova está nos números. Mais de mil trabalhadores da saúde foram assassinados pelas forças de ocupação desde outubro de 2023. Além disso, 19 dos 36 hospitais do enclave deixaram de funcionar. Os 17 complexos hospitalares restantes também já foram atingidos pelos mísseis e tiros de tanque, e alguns deles chegaram a estar fora de operação em diferentes momentos da guerra. Todos funcionam apenas parcialmente, devido à perda de equipamentos e materiais causada pela agressão – disto, nascem os tétricos relatos, que inundam as redes sociais, de cirurgias realizadas sem anestesia ou de óbitos de pacientes por falta de condições para que recebam cuidados. “É impossível estimar qual será o custo indireto em mortes ou danos de longo prazo que resultem da negação de ajuda ou tratamento”, avalia a MSF. Apesar do agravamento radical das violações, a organização destaca, “os problemas enfrentados pelos palestinos em Gaza e na Cisjordânia são muito anteriores ao dia 7 de outubro”. Para a Médicos Sem Fronteiras, a crise humanitária que a Faixa de Gaza já vivia antes da escalada do conflito foi “causada pelo bloqueio israelense que já dura 17 anos”. Desde 2007, os governos do país põem enormes impeditivos à entrada de insumos de saúde no enclave, alegando que eles poderiam ser utilizados para fins bélicos. Na prática, a maioria dos materiais acaba não entrando – e os usuários do sistema de saúde local sofrem com a impossibilidade de receberem tratamento médico do mais alto nível. Ao fim da publicação, a Médicos Sem Fronteiras apresenta uma linha do tempo dos 50 ataques – mais de 3 por mês, em média – perpetrados por Israel contra seus funcionários e instalações durante a guerra. 8 trabalhadores da organização foram mortos. Com a leitura dos relatos, é possível entender em maior detalhe o modus operandi das tropas sionistas. Vários hospitais (Nasser, al-Awda, al-Emirati, al-Aqsa, Khalil Suleiman, al-Shifa, entre outros) evacuados na ponta do fuzil ou intencionalmente atingidos por artilharia. Ambulâncias atingidas por bombardeios aéreos. Profissionais de saúde ameaçados, presos, torturados ou mortos pelos soldados. Em suma, o cenário de um genocídio. Punição à vista? Ampliando o escopo, o relatório da ONU verifica o acontecimento de violações muito similares às relatadas pela MSF também nas instalações de saúde não ligadas ao grupo. As operações das Forças de Defesa de Israel (FDI) “seguiram um padrão, com impactos catastróficos à funcionalidade dos hospitais e à vida dos que dependem de seus serviços, bem como dos que perderam suas casas e se abrigam em seu interior”. Mais: os incessantes bombardeios, os tiros contra civis e pessoal médico, e outros incidentes – cuidadosamente referenciados pelo trabalho, muitas vezes com documentação das próprias FDI – são evidências do uso de “táticas de cerco” contra hospitais, um flagrante crime de guerra. Todos os palestinos são afetados pelos ataques, mas o relatório destaca que alguns dos mais impactados são aqueles com “condições não-fatais potencialmente transformadas em fatais” pela falta de recursos. É o caso de pacientes oncológicos, grávidas, pessoas com doenças crônicas e aqueles que passaram a estar expostos a doenças infecciosas pela destruição da infraestrutura de saneamento, mas também de muitos outros. Passando à análise jurídica desses fatos, o relatório indica que à luz do direito internacional “os ataques a hospitais implicam uma série de violações, incluindo ao direito à saúde, alimentação, água e, em última instância, ao direito à vida”. Com suas ações, Israel teria desrespeitado seus deveres legais enquanto potência ocupante, violado o status de proteção aos hospitais e profissionais de saúde na guerra, ignorado suas obrigações quanto ao uso de explosivos, além de cometido outras violações menos sistemáticas, diz o material. O Escritório de Direitos Humanos da ONU conclui que muitas das ações contra a infraestrutura sanitária de Gaza, de que há inúmeras evidências que foram cometidas por Israel, “são crimes de guerra”. Além disso, por terem sido perpetradas de forma possivelmente sistemática, os atos passam a “poderem ser considerados crimes contra a humanidade”. O relatório destaca que “dadas as limitações do sistema de justiça de Israel frente à conduta de suas forças armadas, são necessárias investigações independentes que reúnam e preservem indícios para futuros processos em tribunais nacionais com jurisdição universal ou tribunais internacionais”, que podem condenar o Estado e seus líderes. Neste momento em que um cessar-fogo é iminente, a hora é propícia para que os crimes israelenses contra hospitais, trabalhadores da saúde e a saúde de todo o povo de Gaza sejam lembrados – e a pressão internacional, inclusive do setor sanitário, se intensifique para que seus perpetradores não fiquem impunes. A leitura completa de ambos os documentos é dura, mas essencial para entender a extensão desses crimes, que não podem ser esquecidos. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Resiliência em saúde, conceito em disputaEvento do CEE debate de que forma os sistemas de saúde podem responder a pressões de todos os tipos – em especial neste momento de catástrofes climáticas. Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, essenciais para contextos de urgência, podem ser referência para o mundo Afinal, o que é resiliência? Palavra da moda em diversos círculos sociais e profissionais, resiliência tornou-se predicado discursivo de toda sorte de atores, de modo que seu significado acaba por se submeter a orientações dos mais variados tipos. Tal noção pode ser lida como síntese do seminário Resiliência em Saúde Pública: desafios e perspectivas, promovido pelo Centro de Estudos Estratégicos (CEE) da Fiocruz nesta segunda, 9/12. Reuniu pesquisadores brasileiros e estrangeiros que estudam experiências de variados sistemas de saúde. “O que os EUA querem dizer, politicamente, ao afirmar que querem uma sociedade ‘mais resiliente’? Quem governa a saúde e como? Olho esse conceito dentro de pensamentos complexos. Como medir, conceituar? Isso é uma coisa que passa pela mão dos políticos que lideram a sociedade”, refletiu Anne-Sophie Jung, pesquisadora em governança e saúde global pela Universidade de Leeds. A referência não é ingênua, uma vez que o país mais rico do mundo se vê às portas de um novo mandato de Donald Trump em sua presidência, e figuras excêntricas como Robert Kennedy Jr assomam como futuras autoridades em órgãos reguladores da saúde nacional. Seu questionamento serve como alerta para que se evite uma automatização da ideia de resiliência como um dado positivo em si. Além disso, sequer pode ser uniforme, uma vez que se aplica de acordo com contextos locais. Em sua fala, Alessandro Jatobá, um dos mediadores do debate e coordenador do projeto Tecnologia, Informação e Resiliência em Saúde Pública (Lab ResiliSUS) do CEE, afirma que, ao contrário do que se imagina mais comumente, a resiliência de um sistema de saúde não se refere apenas à sua capacidade de resistir a um determinado impacto, como uma pandemia, e recuperar sua condição anterior. Trata-se muito mais de adaptar-se a novas condições. “Os sistemas de saúde sempre estão a receber novas pressões, diretas e indiretas. Desastres climáticos, epidemias, condições sociais como os tiroteios aqui no Rio, que afetam a vida cotidiana da população… O SUS mostrou muita resiliência na pandemia. Mas não é apenas responder desastres. Esses momentos são reveladores da complexidade de um sistema, sua capacidade de resistir e se recuperar de um determinado evento. Vai além. Devemos conceituar de forma mais holística, considerando condições crônicas”, explicou. Como exposto pelos pesquisadores, não se volta a um estado anterior, mas absorvem-se novas realidades, que se refletirão na ponta do sistema de saúde e nos problemas com os quais deverá saber conviver. “Os conceitos de resiliência precisam lidar com a ideia de normalidade. Existem relações de poder que influem no que pode ser uma ideia de resiliência. E quando pensamos emergências de saúde e desastres, quando a pandemia acabou todas as pessoas estavam afetadas, as famílias foram abandonadas, perderam gente”, afirmou Paulo Victor Carvalho, do Lab ResiliSUS. No entanto, a ideia de normalidade não é estável, como explicou Sophie-Anne Jung. “Nem todos se encaixam numa certa normalidade. Ou como mostrou a covid-19, nem todos voltam à sua condição normal”, disse. Ou seja, novas doenças ou condições climáticas passam a fazer parte da rotina, com seus respectivos impactos epidemiológicos, o que parece cada dia mais cristalino após acontecimentos como a própria pandemia de covid-19, a catástrofe do Rio Grande do Sul ou grandes períodos de seca em regiões como a Amazônia. Todos os exemplos exigem novas abordagens do poder público, e na prática não é possível voltar a uma situação anterior. “Sistemas de saúde do século 21 enfrentarão desafios simultâneos e o conceito de resiliência deve refletir suficientemente bem a dinâmica, complexidade e mudanças inerentes dentro de si mesmos”, resumiu Victoria Haldane, da Universidade de Toronto. Um exemplo brasileiroPara os pesquisadores estrangeiros, o SUS é um exemplo precioso a ser observado não só por seu caráter universal, público e gratuito. A própria forma de organização e atuação do sistema, em especial através da Estratégia de Saúde da Família, são vistos como um exemplo prático de um sistema de saúde efetivamente resiliente. “Minha pesquisa se inspira na experiência de Matthew Harris, médico inglês que passou pelo SUS nos anos 1990 e percebeu como uma comunidade oferece condições de mapear sua condição epidemiológica e organizar a ação do sistema de saúde. Seus estudos levaram tempo para ser traduzidos, mas colocaram o Brasil e o SUS em evidência. Na covid-19, comunidades e suas equipes conseguiram resultados na redução de determinadas doenças e condições de saúde da população, com farta evidência de como a participação social influiu nisso”, situou Connie Junghans, da Escola de Saúde Pública do Imperial College de Londres. Sua fala não só apresentou sentidos práticos a respeito do tema do seminário como destacou como o célebre National Health System (NHS) tenta reproduzir a experiência brasileira de ação em saúde através de uma presença territorial, isto é, um serviço de saúde que opere além do espaço clínico. “Agora, aparece uma ideia de vizinhança integrada (batizada de Neighbourhood Health Service). E querem trazer os hospitais e médicos de família para dentro de um modelo mais conectado. Começamos um piloto em 2021 com 400 lares. Iniciamos o ‘Modelo CHUI’: amplo, hiperlocal, universal e integrado (comprehensive, hyperlocal, universal, integrated na sigla em inglês). Estamos fazendo treinamentos, cafés comunitários, e interações que servem pra desenvolver práticas básicas em saúde e seu entendimento por todos”, contou. No sistema inglês, não há a figura do agente comunitário de saúde e visitas domiciliares para coleta de informações com pacientes são realizadas por voluntários, o que limita sua eficácia, mais ainda em tempos onde as condições de emprego e bem-estar retrocederam. E é isso que especialistas em saúde começam a tentar mudar. “Nossas experiências com agentes comunitários tiveram resultados de até 90% de melhorias em saúde. Isso porque quando as pessoas recebem visitas domiciliares não querem falar de saúde. Falam de diversas questões sociais, criminalidade, emprego, economia… E isso permitiu uma abordagem mais realista. Isso tem tido repercussão na igreja, no parlamento, que levou a todo um debate sobre o futuro do NHS e seu modelo”, completou Connie Junghans. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Câncer de pele: com a chegada do verão, prevenção é fundamental para evitar a doençaBianca MingoteO verão chegou oficialmente no dia 21. E com a maior incidência do sol nesse período, é necessário tomar cuidados preventivos durante os períodos de exposição solar, ação fundamental para evitar o câncer de pele. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 65% dos casos desse tipo de câncer são provocados pelos raios ultravioleta, que são emitidos especialmente pelo sol, como também em algumas atividades industriais. O verão chegou oficialmente no dia 21. Com a maior incidência do sol nesse período, é necessário tomar cuidados preventivos durante os períodos de exposição solar, ação fundamental para evitar o câncer de pele. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 65% dos casos desse tipo de câncer são provocados pelos raios ultravioleta, emitidos especialmente pelo sol, mas também em algumas atividades industriais. Estima-se, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), que o Brasil registre 220,5 mil novos casos de câncer de pele não melanoma e 9 mil novos casos de câncer de pele melanoma a cada ano, entre 2023 e 2025. Como o câncer é uma doença que não tem notificação obrigatória, não há dados precisos de incidência, apenas estimativas. O Ministério da Saúde informa que, em termos de proporção da população, o risco estimado de câncer de pele não melanoma é, em média, de 102 casos por 100 mil habitantes, sendo 96,5 mil em homens e 107 mil em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 96,5 casos novos a cada 100 mil homens e 107 casos novos a cada 100 mil mulheres. Assistência no SUSNo Sistema Único de Saúde (SUS), há ferramentas de diagnóstico para câncer de pele em caso de suspeita, bem como diferentes formas de tratamento. Para o diagnóstico da doença, é possível utilizar a dermatoscopia simples ou o mapeamento dermatoscópico. O tratamento, por sua vez, depende do tamanho, gravidade e estágio do tumor. Entre os métodos mais comuns estão: cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia alvo e terapia fotodinâmica. Apenas em 2023, foram realizadas no SUS mais de 65 mil cirurgias relacionadas ao tratamento do câncer de pele. Radiação ultravioletaO principal fator de risco para todos os tipos de câncer de pele é a radiação ultravioleta, que provoca lesões no DNA. O dano é cumulativo. Confira algumas medidas preventivas:
Melanoma e não melanomaDe acordo com o Inca, o câncer de pele pode ser classificado como melanoma e não melanoma. O melanoma é mais raro, mais agressivo e pode levar à morte. Já o câncer de pele não melanoma é o mais frequente e menos grave, mas tem potencial para causar deformações no corpo. É importante lembrar que ambos têm cura se forem descobertos no início. Os fatores associados ao câncer de pele não melanoma incluem idade, sexo e ocupação. Por exemplo: trabalho em fabricação de vidros, indústria de eletrônicos, produção e manuseio de óleo mineral não tratado, metalurgia, entre outros. De acordo com o Ministério da Saúde, o uso de medicamentos imunossupressores, como ciclosporina e azatioprina, antifúngicos, como voriconazol, e diuréticos, como hidroclorotiazida, associados à exposição solar, também aumentam o risco. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Saúde mental, lucrativo filão das Big TechsUm app que detecta risco de depressão. Outro que monitora emoções… e dá conselhos médicos. Corporações vendem a ideia tecnocrata de autogestão do bem-estar — “mais ágil e barata”. Mas estão camuflando as causas sociais do sofrimento e monetizando mais dados… Por Nick Couldry, Felix Maschewski e Anna-Verena Nosthoff, na Jacobin Brasil | Tradução: Pedro Silva Filosofando em uma entrevista de 2019, o CEO da Apple, Tim Cook, levantou a questão de qual será, no final das contas, “a maior contribuição da Apple para a humanidade”. Ele respondeu inequivocamente que essa contribuição “será em relação à saúde”. A promessa de Cook se manifestou desde então em vários produtos inovadores da Apple que pretendem “democratizar” os cuidados de saúde e capacitar indivíduos “a administrar sua saúde”. Os últimos anos também viram uma série de outras tentativas de perturbar o mercado de cuidados de saúde por gigantes das Big Techs, Amazon, Meta e Alphabet. Mais recentemente, foi até anunciado que a notória empresa de vigilância Palantir ganhou um contrato de £ 330 milhões para criar uma nova plataforma de dados para o Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS). A covid-19 acelerou essa tendência, pois a pandemia deixou em seu rastro várias subsidiárias, redes de pesquisa, serviços de saúde online, clínicas e outros empreendimentos visando “redesenhar o futuro da saúde” (nas palavras da subsidiária da Alphabet, Verily) com smartwatches e outras ferramentas digitais. No entanto, as incursões das maiores empresas de tecnologia do hemisfério ocidental na assistência médica não estão mais centradas apenas no corpo. Não contentes em mapear pulmões e membros, seu mais novo alvo é a mente. O momento da última guinada das Big Techs em direção ao bem-estar mental como parte de seu projeto para “mapear a saúde humana” dificilmente é por acaso. Manchetes sobre uma “crise de saúde mental” nacional dominaram recentemente as notícias: as taxas de suicídio estão atualmente em alta nos Estados Unidos e, como Bernie Sanders destacou, quase um em cada três adolescentes dos EUA relatou em uma pesquisa recente do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) que sofria de problemas de saúde mental. Os conglomerados de tecnologia estão muito felizes em construir campanhas de relações públicas em torno desses fatos alarmantes, falando sobre seus esforços para combater essas tendências ou mesmo “resolver a crise de saúde mental” completamente. Dessa forma, as Big Techs parecem seguir uma máxima testada e comprovada: nunca deixe uma boa crise ser desperdiçada. Apple: Determinando seu nível de depressãoOs esforços iniciais da Apple para entrar no mercado de saúde ganharam força depois que a empresa refinou seu dispositivo vestível exclusivo por volta de 2019, transformando-o de um acessório para self-trackers geeks e excêntricos em um símbolo chique de bem-estar. Desde então, a Apple tem colaborado com várias instituições de pesquisa e lançou uma ampla gama de estudos de saúde dedicados a mostrar que seu smartwatch não é apenas um dispositivo fitness vestível, mas um “salva-vidas” capaz de detectar fibrilação atrial ou até mesmo sintomas de covid-19. Dada sua missão de oferecer aos usuários um “quadro completo” de sua saúde geral, o anúncio recente da Apple de que adicionará rastreamento de saúde mental ao Apple Watch é um próximo passo lógico. O novo recurso State of Mind do aplicativo Mindfulness da Apple pede aos usuários que classifiquem como estão se sentindo em uma escala de Muito Agradável a Muito Desagradável, para indicar fatores que afetam seus estados emocionais, como estresse familiar e profissional, e para descrever sua perspectiva com adjetivos como Grato e Preocupado. A esperança, aparentemente, é que um acesso por dia mantenha o psiquiatra longe. O aplicativo Mindfulness usa esses dados para determinar o risco de depressão de um indivíduo. Convenientemente, um estudo recente de “saúde mental digital” realizado por pesquisadores da UCLA (e patrocinado pela Apple) foi capaz de mostrar que o uso do aplicativo no Apple Watch aumentou a consciência emocional em 80% dos participantes, enquanto 50% alegaram que ele teve um impacto positivo em seu bem-estar geral — informações que a empresa agora está anunciando em seu site. Nos próximos meses, a Apple provavelmente lançará ainda mais softwares de saúde mental. De acordo com relatórios recentes, ela agora está trabalhando em um orientador de saúde com inteligência artificial (IA) chamado Quartz, um aplicativo que supostamente não só será capaz de monitorar as emoções do usuário, mas também dar a ele conselhos médicos. Com certeza, há uma crescente crise de saúde mental nos Estados Unidos e em outros lugares, e há uma necessidade urgente de tratamento direto e economicamente efetivo. Entre 2007 e 2020, o número de visitas ao pronto-socorro devido a problemas de saúde mental quase dobrou nos Estados Unidos, com as gerações mais jovens particularmente afetadas. No entanto, embora ferramentas “inteligentes” possam beneficiar modestamente alguns pacientes, o uso de dispositivos vestíveis também pode aumentar o estresse e a ansiedade, como outros estudos recentes mostraram. Além disso, o foco em soluções tecnológicas de curto prazo corre o risco de nos distrair das causas sociais e políticas subjacentes às doenças psicológicas, como exploração no local de trabalho, instabilidade financeira, crescente atomização e acesso limitado a cuidados de saúde de qualidade, alimentação e moradia. Ela também empurra a principal responsabilidade de lidar com transtornos de saúde mental para os indivíduos, no típico estilo neoliberal. Como a vice-presidente de saúde da Apple, Sumbul Desai afirmou recentemente que o objetivo de sua empresa “é capacitar as pessoas a assumirem o controle de sua própria jornada de saúde”. Meta: Trabalhando com o NHS para minerar seus dados de saúde mentalA Apple não é a única empresa Big Tech que se interessou pela saúde mental de seus consumidores. E enquanto o gigante de Cupertino pelo menos faz um discurso sobre privacidade de dados, muitas das outras empresas nem se importam. Na primavera de 2023, surgiram notícias de que o NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) estava compartilhando detalhes íntimos sobre a saúde dos pacientes com o Facebook. Durante anos, o NHS vinha fornecendo informações, incluindo consultas de pesquisa sobre automutilação e consultas de aconselhamento feitas por usuários do site do serviço para a rede social e sua empresa controladora, Meta, por meio de uma ferramenta de coleta de dados chamada Meta Pixel. Em um exemplo, o Alder Hey Children’s Hospital em Liverpool deu ao Facebook e à Meta os dados de usuários que visitaram suas páginas web buscando saber sobre problemas de desenvolvimento sexual, transtornos alimentares e serviços de saúde mental de crise, e compartilharam informações sobre suas prescrições de medicamentos. Em outro, a clínica de saúde mental Tavistock and Portman, em Londres, forneceu à gigante da tecnologia os dados de visitantes de sua página web que buscaram informações sobre desenvolvimento de identidade de gênero, que são projetadas especificamente como um recurso educacional para crianças e adolescentes. Enquanto especialistas em privacidade como Carissa Véliz aconselham profissionais de saúde e instituições a “coletar o mínimo de informações necessárias para tratar [pacientes] — nada mais”, a violação de dados do NHS/Facebook reflete uma tendência oposta: não a minimização de dados, como Veliz recomenda, mas a maximização de dados, justificada pela ideia de que uma maior extração de dados em si é automaticamente a resposta para problemas profundos e socialmente enraizados. Neste caso, os dados pessoais foram obtidos sem o consentimento ou mesmo conhecimento dos pacientes para direcionar anúncios a eles — o cerne do modelo de negócios da Meta. O escândalo foi apenas o mais recente de uma longa linha de desastres de relações públicas recentes para a empresa, vindo logo após o fiasco em torno do lançamento do Metaverso (não por coincidência, o futuro imersivo da internet de Mark Zuckerberg foi aclamado como uma “solução promissora para a saúde mental”). E o caso não foi um incidente isolado: em março de 2023, foi revelado que a startup de telessaúde Cerebral compartilhou dados privados de saúde, incluindo informações sobre saúde mental, não apenas com a Meta, mas também com o Google, entre outros. Alphabet: o Fitbit como um treinador mentalA empresa controladora do Google, a Alphabet, outra notória mineradora de dados, também entrou no mercado de dispositivos vestíveis e, desde que concluiu a compra da fabricante de smartwatches Fitbit em 2021, juntou-se à Apple na pregação dos benefícios dos vestíveis para a saúde mental. Logo após um estudo conduzido pela subsidiária de pesquisa em ciências biológicas da Alphabet, Verily, sobre se smartphones podem ser usados para detectar sintomas de depressão, a Fitbit lançou recentemente um aplicativo para smartphone reformulado, “projetado para dar uma visão holística de sua saúde e bem-estar com foco nas métricas que mais importam para você”. Semelhante ao aplicativo Mindfulness da Apple, essa reformulação contém um recurso chamado Log Mood que permite aos usuários inserir seus estados emocionais. Uma equipe da Universidade de Washington em St. Louis usou dados do Fitbit e um modelo de IA para dar credibilidade à “viabilidade e promessa de usar dispositivos vestíveis para detectar transtornos mentais em uma comunidade grande e diversa”. De acordo com Chenyang Lu, professor da Escola de Engenharia McKelvey e um dos autores do estudo, esta pesquisa tem relevância no mundo real, dado que “ir a um psiquiatra e preencher questionários consome muito tempo, e então as pessoas podem ter alguma relutância em consultá-lo”. Em outras palavras, a IA pode ser uma ferramenta ágil e de baixo custo para gerenciar a saúde mental de uma pessoa. Longe de provar que vestíveis podem diagnosticar depressão, o estudo revelou várias correlações potenciais entre uma inclinação para a depressão e biomarcadores baseados nesses dispositivos. Mas isso não impediu Lu de se entusiasmar e afirmar que “este modelo de IA [desenvolvido no estudo] é capaz de dizer se você tem depressão ou transtornos de ansiedade. Pense no modelo de IA como uma ferramenta de triagem automatizada.” Esse exagero da evidência empírica perpetua a noção duvidosa de que problemas de saúde mental podem ser resolvidos por meio de soluções tecnológicas. Claro, também é tremendamente benéfico para os interesses corporativos da Alphabet. Mas o Fitbit não é a única intervenção da empresa no âmbito da saúde mental. Além das informações de prevenção ao suicídio que o Google Search tem exibido acima dos resultados de pesquisa relacionados à saúde mental por vários anos, a empresa anunciou recentemente que os usuários que pesquisarem termos relacionados ao suicídio verão um prompt com iniciadores de conversa pré-escritos que poderão enviar por mensagem de texto para o 988 Suicide & Crisis Lifeline. Embora uma ferramenta como essa possa ser muito útil em emergências, há uma preocupação real de que o Google instrumentalize os dados sensíveis coletados aqui, compartilhando-os com anunciantes para que possam ser explorados e monetizados junto com os outros dados coletados. Vale mencionar que as novas medidas de prevenção ao suicídio do Google foram reveladas apenas algumas semanas após os suicídios de três funcionários da empresa terem dado origem a especulações sobre a saúde mental de sua própria força de trabalho. Nesse contexto, os novos recursos podem ser lidos como um golpe de relações públicas para desviar o foco de questões urgentes dentro da própria empresa. Amazon: cedendo seus direitos HIPAA para a Amazon ClinicAgora a Amazon também está ocupada em se promover como uma provedora e defensora dos cuidados de saúde mental. Embora Jeff Bezos pareça estar principalmente ocupado com sonhos de empreendedorismo espacial e indústrias lunares, ele não se esqueceu de lançar algumas “soluções” de saúde mental aqui na Terra. Já em 2018, Bezos anunciou sua intenção de resolver a crise de saúde dos Estados Unidos democratizando o acesso a serviços médicos. Ele comprou a farmácia online PillPack e depois desenvolveu a Amazon Pharmacy. Em 2019, ele lançou o Amazon Care, uma plataforma online que oferece assistência médica abrangente 24/7 para funcionários da Amazon por meio de mensagens e chat de vídeo. Essa iniciativa envolveu uma colaboração com a Ginger, um serviço de psicoterapia baseado na internet e em aplicativos que se autointitula como “saúde mental para cada momento” e uma “solução completa para saúde mental”. Em 2021, a Amazon fechou a Amazon Care e estabeleceu a Amazon Clinic, uma plataforma virtual de assistência médica com ambições maiores do que sua antecessora: planos já foram anunciados para expandir o novo serviço para todos os cinquenta estados e o Distrito de Columbia. Ao contrário da Amazon Care, a Amazon Clinic é aberta ao público em geral. Para usá-la, no entanto, os pacientes devem consentir com o “uso e divulgação de informações de saúde protegidas” — renunciando a seus direitos às proteções de privacidade federais existentes sob a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA) — e efetivamente conceder à gigante da tecnologia acesso ao seu eu mais íntimo. (A legalidade disso é examinada agora pela FTC.) Em fevereiro deste ano, a Amazon expandiu ainda mais seu portfólio de assistência médica ao adquirir a One Medical, uma empresa que oferece assistência primária presencial, online e por aplicativo em mais de vinte cidades e regiões metropolitanas dos EUA. Um de seus subprogramas, Mindset by One Medical, foca especificamente em saúde mental, oferecendo aos pacientes ajuda virtual com condições como estresse, ansiedade, depressão, TDAH e insônia em ambientes de grupo online e orientação individual. Além de suas últimas movimentações com a Amazon Clinic e a One Medical, a Amazon recentemente ampliou suas ofertas de assistência médica para funcionários ao fazer parceria com a Maven Clinic, a maior clínica virtual do mundo para saúde feminina e familiar. Com o objetivo de se expandir para cinquenta países além dos Estados Unidos e Canadá, a parceria com a Maven Clinic concederá à Amazon acesso lucrativo a alguns dos conjuntos de dados mais íntimos e vulneráveis dos usuários. Os perigos gerais de tais dados serem acumulados em mãos com interesses comerciais que, sob certas circunstâncias, os repassarão alegremente às autoridades estaduais, nacionais ou locais são claros: veja, por exemplo, a adolescente de Nebraska que foi condenada no verão de 2021 por violar a lei de aborto de seu estado depois que o Facebook e o Google forneceram à polícia suas mensagens privadas e dados de navegação. A colonização de dados de saúde mentalAs tentativas vertiginosas da Amazon, Meta, Apple e Alphabet de se posicionarem no ramo da saúde mental vão além da mera disrupção. A escala dessa transformação deve ser entendida dentro da estrutura do maior impulso para anexar recursos inexplorados na história: o colonialismo. Sob o disfarce de corporações trabalhando para aliviar as instabilidades da saúde mental das pessoas, uma forma fundamental de apropriação de ativos está em andamento. Afinal, até recentemente, a própria ideia de que nossa saúde mental (e todos os dados que a representam e rastreiam) poderia ser um ativo comercial em um balanço patrimonial teria parecido bizarra. Mas hoje está se tornando banal. É uma faceta do que Nick Couldry e Ulises Mejias chamaram de “colonialismo de dados”. Todas as quatro corporações são parte de um setor comercial maior focado em explorar novas definições de conhecimento e racionalidade voltadas para a extração de dados. Por meio da coleta habitual de dados sensíveis e da captura de muitos outros domínios sociais (saúde, educação e direito, para citar alguns), estamos caminhando em direção à “capitalização da vida sem limites”, como Couldry e Mejias descrevem. A normalização de dispositivos vestíveis como ferramentas para indivíduos, aparentemente para gerenciar sua saúde (tanto psíquica quanto física), é parte desse processo, convertendo a vida diária em um fluxo de dados que pode ser lucrativamente apropriado. O aplicativo Mindfulness da Apple e o Log Mood da Fitbit são apenas dois exemplos de como as Big Techs, tendo colonizado o território do corpo, agora têm seus olhos voltados para a psique. O colonialismo de dados, assim como os estágios anteriores do colonialismo, afeta desproporcionalmente aqueles que já são marginalizados. Por um lado, as tecnologias que ele envolve são às vezes tendenciosas contra grupos marginalizados, como foi destacado por um processo recente contra a Apple sobre o suposto “viés racial” do leitor de oxigênio no sangue do Apple Watch. Mas, além disso, a ideia de que a saúde mental e física são principalmente uma questão de responsabilidade individual e gestão pessoal assistida por tecnologia ignora o fato de que os problemas de saúde são frequentemente motivados por questões sistêmicas, como condições de trabalho exploradoras e insalubres ou falta de tempo e recursos financeiros para praticar uma vida saudável, que são moldadas por desigualdades de longo prazo. O colonialismo de dados ofusca esses fatores em favor do lucro, quando uma discussão sobre os fatores socioeconômicos por trás da crise de saúde mental é mais necessária do que nunca. É irônico que, assim como essa mudança estrutural na gestão de nossos corpos e mentes está em curso, uma explicação estreitamente determinística, associal e individualista de como a saúde mental pode ser gerenciada esteja sendo promovida pelos principais extratores de dados. De fato, é mais do que irônico: é talvez o álibi perfeito para desviar nossa atenção da coleta de dados conduzida institucionalmente que está em andamento. Sobre os autores Nick Couldry é professor de mídia, comunicação e teoria social na London School of Economics and Political Science e autor (com Ulises A. Mejías) de The Costs of Connection (Stanford UP 2019). Felix Maschewski é um ensaísta, teórico cultural e codiretor do Critical Data Lab na Humboldt University of Berlin. Ele é um pesquisador afiliado no Institute of Network Cultures e coautor de Die Gesellschaft der Wearables (Nicolai, 2019). Anna-Verena Nosthoff é uma teórica social e filósofa. Ela é codiretora do Critical Data Lab na Humboldt University of Berlin, pesquisadora afiliada no Institute of Network Cultures e coautora de Die Gesellschaft der Wearables (Nicolai, 2019). | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Resiliência em saúde, conceito em disputaEvento do CEE debate de que forma os sistemas de saúde podem responder a pressões de todos os tipos – em especial neste momento de catástrofes climáticas. Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, essenciais para contextos de urgência, podem ser referência para o mundo Afinal, o que é resiliência? Palavra da moda em diversos círculos sociais e profissionais, resiliência tornou-se predicado discursivo de toda sorte de atores, de modo que seu significado acaba por se submeter a orientações dos mais variados tipos. Tal noção pode ser lida como síntese do seminário Resiliência em Saúde Pública: desafios e perspectivas, promovido pelo Centro de Estudos Estratégicos (CEE) da Fiocruz nesta segunda, 9/12. Reuniu pesquisadores brasileiros e estrangeiros que estudam experiências de variados sistemas de saúde. “O que os EUA querem dizer, politicamente, ao afirmar que querem uma sociedade ‘mais resiliente’? Quem governa a saúde e como? Olho esse conceito dentro de pensamentos complexos. Como medir, conceituar? Isso é uma coisa que passa pela mão dos políticos que lideram a sociedade”, refletiu Anne-Sophie Jung, pesquisadora em governança e saúde global pela Universidade de Leeds. A referência não é ingênua, uma vez que o país mais rico do mundo se vê às portas de um novo mandato de Donald Trump em sua presidência, e figuras excêntricas como Robert Kennedy Jr assomam como futuras autoridades em órgãos reguladores da saúde nacional. Seu questionamento serve como alerta para que se evite uma automatização da ideia de resiliência como um dado positivo em si. Além disso, sequer pode ser uniforme, uma vez que se aplica de acordo com contextos locais. Em sua fala, Alessandro Jatobá, um dos mediadores do debate e coordenador do projeto Tecnologia, Informação e Resiliência em Saúde Pública (Lab ResiliSUS) do CEE, afirma que, ao contrário do que se imagina mais comumente, a resiliência de um sistema de saúde não se refere apenas à sua capacidade de resistir a um determinado impacto, como uma pandemia, e recuperar sua condição anterior. Trata-se muito mais de adaptar-se a novas condições. “Os sistemas de saúde sempre estão a receber novas pressões, diretas e indiretas. Desastres climáticos, epidemias, condições sociais como os tiroteios aqui no Rio, que afetam a vida cotidiana da população… O SUS mostrou muita resiliência na pandemia. Mas não é apenas responder desastres. Esses momentos são reveladores da complexidade de um sistema, sua capacidade de resistir e se recuperar de um determinado evento. Vai além. Devemos conceituar de forma mais holística, considerando condições crônicas”, explicou. Como exposto pelos pesquisadores, não se volta a um estado anterior, mas absorvem-se novas realidades, que se refletirão na ponta do sistema de saúde e nos problemas com os quais deverá saber conviver. “Os conceitos de resiliência precisam lidar com a ideia de normalidade. Existem relações de poder que influem no que pode ser uma ideia de resiliência. E quando pensamos emergências de saúde e desastres, quando a pandemia acabou todas as pessoas estavam afetadas, as famílias foram abandonadas, perderam gente”, afirmou Paulo Victor Carvalho, do Lab ResiliSUS. No entanto, a ideia de normalidade não é estável, como explicou Sophie-Anne Jung. “Nem todos se encaixam numa certa normalidade. Ou como mostrou a covid-19, nem todos voltam à sua condição normal”, disse. Ou seja, novas doenças ou condições climáticas passam a fazer parte da rotina, com seus respectivos impactos epidemiológicos, o que parece cada dia mais cristalino após acontecimentos como a própria pandemia de covid-19, a catástrofe do Rio Grande do Sul ou grandes períodos de seca em regiões como a Amazônia. Todos os exemplos exigem novas abordagens do poder público, e na prática não é possível voltar a uma situação anterior. “Sistemas de saúde do século 21 enfrentarão desafios simultâneos e o conceito de resiliência deve refletir suficientemente bem a dinâmica, complexidade e mudanças inerentes dentro de si mesmos”, resumiu Victoria Haldane, da Universidade de Toronto. Um exemplo brasileiroPara os pesquisadores estrangeiros, o SUS é um exemplo precioso a ser observado não só por seu caráter universal, público e gratuito. A própria forma de organização e atuação do sistema, em especial através da Estratégia de Saúde da Família, são vistos como um exemplo prático de um sistema de saúde efetivamente resiliente. “Minha pesquisa se inspira na experiência de Matthew Harris, médico inglês que passou pelo SUS nos anos 1990 e percebeu como uma comunidade oferece condições de mapear sua condição epidemiológica e organizar a ação do sistema de saúde. Seus estudos levaram tempo para ser traduzidos, mas colocaram o Brasil e o SUS em evidência. Na covid-19, comunidades e suas equipes conseguiram resultados na redução de determinadas doenças e condições de saúde da população, com farta evidência de como a participação social influiu nisso”, situou Connie Junghans, da Escola de Saúde Pública do Imperial College de Londres. Sua fala não só apresentou sentidos práticos a respeito do tema do seminário como destacou como o célebre National Health System (NHS) tenta reproduzir a experiência brasileira de ação em saúde através de uma presença territorial, isto é, um serviço de saúde que opere além do espaço clínico. “Agora, aparece uma ideia de vizinhança integrada (batizada de Neighbourhood Health Service). E querem trazer os hospitais e médicos de família para dentro de um modelo mais conectado. Começamos um piloto em 2021 com 400 lares. Iniciamos o ‘Modelo CHUI’: amplo, hiperlocal, universal e integrado (comprehensive, hyperlocal, universal, integrated na sigla em inglês). Estamos fazendo treinamentos, cafés comunitários, e interações que servem pra desenvolver práticas básicas em saúde e seu entendimento por todos”, contou. No sistema inglês, não há a figura do agente comunitário de saúde e visitas domiciliares para coleta de informações com pacientes são realizadas por voluntários, o que limita sua eficácia, mais ainda em tempos onde as condições de emprego e bem-estar retrocederam. E é isso que especialistas em saúde começam a tentar mudar. “Nossas experiências com agentes comunitários tiveram resultados de até 90% de melhorias em saúde. Isso porque quando as pessoas recebem visitas domiciliares não querem falar de saúde. Falam de diversas questões sociais, criminalidade, emprego, economia… E isso permitiu uma abordagem mais realista. Isso tem tido repercussão na igreja, no parlamento, que levou a todo um debate sobre o futuro do NHS e seu modelo”, completou Connie Junghans. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | É hora de levar a sério o antirracismo no SUSCampanha “Não fique em silêncio”, para combater desigualdade racial na saúde, faz dez anos. Analisar sua trajetória ajuda a compreender que é preciso continuidade nas políticas ligadas à PNSIPN – além de garantir formação de profissionais e participação social Título original: Dez Anos da Campanha ‘Não Fique em Silêncio’: desafios persistentes no enfrentamento do racismo na saúde Em novembro de 2014, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), lançou a campanha “Não Fique em Silêncio – Racismo Faz Mal à Saúde”, uma iniciativa pioneira que visava enfrentar o racismo no Sistema Único de Saúde (SUS). A campanha surgiu no contexto da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), que, desde sua criação em 2009, busca combater as desigualdades raciais no acesso e na qualidade dos serviços de saúde. O objetivo da campanha era sensibilizar tanto profissionais de saúde quanto usuárias/os para os impactos negativos do racismo no acesso aos serviços e na qualidade do atendimento, além de incentivar a denúncia de discriminação racial. Não é recente em nossa história que esses atores e atrizes políticos pressionaram o Estado pela criação de ações que reconheçam o racismo como um determinante social de saúde e que, consequentemente, pudessem subsidiar políticas públicas mais justas para a população negra. A ação foi um marco ao reconhecer o racismo como elemento que compromete a equidade no acesso aos cuidados de saúde e impacta diretamente a qualidade da assistência prestada à população negra. No entanto, para os movimentos negros, o impacto dessa campanha foi limitado, uma vez que faltaram estratégias institucionais consistentes e planejadas que, de fato, transformassem as dinâmicas de poder dentro do SUS e enfrentassem o racismo de maneira efetiva e duradoura. Uma das maiores contribuições dessa iniciativa foi destacar o racismo como um problema que influencia diretamente os resultados em saúde da população negra, afetando o acesso aos serviços de saúde, a qualidade do atendimento e as condições de vida que determinam o bem-estar, como moradia, educação e trabalho. Ao trazer a palavra “racismo” para o centro do debate, a campanha não apenas reconheceu o problema de forma explícita, mas também ajudou a desnaturalizar a discriminação racial que permeia o atendimento de saúde. Além disso, a campanha teve grande visibilidade, utilizando uma variedade de canais de comunicação, incluindo televisão, rádios comunitárias e redes sociais. Ao alcançar um público amplo e diverso, a campanha ajudou a disseminar a mensagem sobre as implicações do racismo no SUS. Esse uso estratégico de meios de comunicação foi um dos pontos positivos da ação, pois permitiu o alcance de diferentes grupos e territórios do Brasil, ampliando a discussão sobre saúde da população negra. Outro aspecto positivo foi promover a reflexão coletiva sobre o papel das instituições públicas no enfrentamento do racismo. Ao incentivar a denúncia de discriminação racial no âmbito da saúde, a campanha trouxe à tona uma prática que, muitas vezes, é invisibilizada ou minimizada dentro das esferas de gestão pública e de prestação de serviços públicos. Outro ponto importante foi a articulação entre o Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil. Essa colaboração foi importante porque assegurou que a campanha fosse uma ação coletiva em sua elaboração, levando em consideração a experiência e os conhecimentos acumulados pelos movimentos negros, de mulheres negras e organizações antirracistas. Ainda que essa participação tenha sido limitada, a campanha favoreceu a relação entre o governo e esses grupos, trazendo visibilidade para a luta contra o racismo no SUS. Além disso, a campanha não teve continuidade, o que significou que as questões levantadas não foram abordadas de forma estruturada dentro do próprio SUS. A falta de monitoramento e de um planejamento intersetorial consistente para a implementação das medidas propostas comprometeram os resultados a longo prazo. Essa fragilidade na implementação revelou a dificuldade de incorporar a pauta racial de forma contínua e coordenada nas políticas públicas de saúde, especialmente nos âmbitos estadual e municipal por meio da PNSIPN. De fato, o racismo institucional, abordado pela campanha, continua a ser um dos principais obstáculos para a efetivação de uma saúde pública equânime. Diante disso, ao longo dos anos, os dados sobre a saúde da população negra mostram que o racismo institucionalizado nas instâncias públicas como o SUS ainda é um fator decisivo para a perpetuação das desigualdades. O Relatório da 1ª Oficina de Trabalho: Morte Materna de Mulheres Negras no Contexto do SUS (2023) apresenta dados que expõem a gravidade das desigualdades raciais na mortalidade materna. De acordo com o documento, mulheres negras (pretas e pardas) representaram cerca de 65% das mortes maternas no Brasil, mesmo compondo aproximadamente 56% da população feminina em idade fértil. Essa discrepância reflete a persistência de barreiras raciais no acesso aos cuidados de saúde. Além disso, o relatório ressalta que a maioria dessas mortes ocorre devido a causas evitáveis, como hemorragias e infecções pós-parto, agravadas pela demora no diagnóstico e tratamento, além da falta de assistência adequada durante o pré-natal e o parto. De acordo com o Boletim Epidemiológico – Número Especial Saúde da População Negra (2023), há desigualdades importantes no número de consultas de pré-natal realizadas entre mulheres negras em comparação com as brancas. Dados apontam que, enquanto 79,7% das mulheres brancas realizaram sete ou mais consultas de pré-natal, apenas 68,4% das mulheres negras alcançaram a cobertura mínima recomendada pelo Ministério da Saúde. Esses dados refletem disparidades significativas no acesso a cuidados essenciais de saúde, como acompanhamento pré-natal de qualidade e assistência obstétrica adequada, e demonstram o impacto do racismo na saúde, contribuindo para a maior vulnerabilidade da população negra. A análise também destaca que a mortalidade materna é desproporcionalmente maior entre mulheres negras, revelando falhas no atendimento e no cumprimento das políticas de saúde destinadas a reduzir essas desigualdades. Os movimentos de mulheres negras têm destacado, de maneira contínua, que a persistência dessas desigualdades no SUS está diretamente relacionada à ausência de um financiamento consistente para a saúde da população negra e à precarização dos serviços de saúde em territórios de alta vulnerabilidade. Outro ponto crítico apontado pelos movimentos negros é a baixa representatividade da população negra nos espaços decisórios do SUS. A ausência de lideranças negras nos cargos de gestão e planejamento das políticas de saúde é uma das causas principais da resistência à implementação de estratégias adequadas para o enfrentamento do racismo. Essa resistência, por sua vez, contribui para a descontinuidade das políticas públicas que poderiam efetivamente enfrentar as desigualdades raciais no sistema de saúde. Sem a presença de pessoas negras nesses espaços, há uma tendência à manutenção de práticas e prioridades que não consideram plenamente o impacto das desigualdades raciais na saúde. Além disso, a resistência à inclusão de perspectivas antirracistas nos serviços de saúde pública contribui para a descontinuidade de iniciativas fundamentais, como campanhas e programas de combate às iniquidades raciais. Essa descontinuidade reflete não apenas uma falha em priorizar a saúde da população negra, mas também compromete a credibilidade e a capacidade do SUS em ser um sistema verdadeiramente universal. Portanto, a ampliação da representatividade negra em espaços de decisão é essencial não apenas para fortalecer políticas públicas, mas também para assegurar que a luta contra o racismo seja central e contínua no planejamento e execução das ações de saúde. Em relação à PNSIPN, embora a política tenha sido um avanço significativo, ela ainda enfrenta uma série de desafios. O principal deles é a falta de estratégias de educação permanente para as/os profissionais de saúde, que são agentes nas práticas de cuidado e atendimento à população negra. A inserção de conteúdos educativos que abordem os temas racismo e saúde da população negra nas graduações e capacitações de profissionais de saúde ainda é insuficiente e, muitas vezes, negligenciada. Sem uma formação específica e contínua, as/os profissionais de saúde não estarão preparadas/os para lidar com questões relativas ao racismo no atendimento, e isso acaba por reforçar a desigualdade dentro do próprio SUS. As políticas públicas para a população negra ainda carecem de uma articulação efetiva entre as diferentes esferas de governo, e, especialmente, entre os diferentes setores da sociedade. As desigualdades raciais na saúde não podem ser enfrentadas apenas por meio de ações isoladas, como a campanha “Não Fique em Silêncio”, mas por uma ação coordenada que envolve não apenas a área da saúde, mas também da educação, da segurança pública e da assistência social. Somente por meio dessa articulação intersetorial será possível criar um SUS que respeite as necessidades da população negra e combata efetivamente o racismo. Portanto, para que o SUS cumpra seu papel de garantir a saúde para toda a população brasileira de maneira igualitária, é necessário um compromisso renovado com a implementação plena da PNSIPN. Isso requer a destinação de recursos adequados, a criação de metas claras e a formação continuada das/os trabalhadoras/es da saúde. É fundamental também que as lideranças negras tenham um papel central na formulação e implementação das políticas públicas de saúde, com a participação ativa em conselhos e comitês de saúde e outros espaços decisórios. A inclusão da pauta racial nos planos estaduais e municipais de saúde deve ser obrigatória, e essas ações precisam ser monitoradas de forma constante para garantir que os resultados sejam alcançados. A campanha “Não Fique em Silêncio” é um marco relevante no enfrentamento do racismo na saúde, mas é necessário avançar, especialmente após os anos de desmonte das políticas voltadas para a população negra que marcaram os governos de Temer e Bolsonaro. A erradicação das desigualdades raciais exige mudanças estruturais nas políticas públicas e um compromisso contínuo com a promoção da equidade racial em todos os níveis do SUS. Transformar a realidade da saúde depende de estratégias que reconheçam e enfrentem as desigualdades raciais como barreiras estruturais ao acesso e à qualidade dos serviços de saúde, promovendo ações concretas que garantam o cuidado humanizado. Sem essas mudanças, as disparidades raciais permanecerão como um dos maiores desafios para a efetivação do direito universal à saúde no Brasil. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | O fantasma da Saúde na era da IAEstudo mostra: publicidade sobre remédios e tratamentos sem comprovação científica se propagam em forma de deepfakes, com rostos de Drauzio Varella e Celso Russomanno. Elas somem sem rastro e criam preocupante desafio para médicos e sanitaristas Por Rose Talamone, no Jornal da USP Nos últimos anos, a proliferação de desinformação na área da saúde atingiu proporções alarmantes, especialmente nas plataformas digitais. João Henrique Rafael Junior, analista de Comunicação do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto (IEA-RP) da USP, monitora essa situação desde 2019, quando começaram os trabalhos da União Pró-Vacina (UPVacina), observando como o ecossistema digital, em particular o Facebook, se tornou um terreno fértil para propagandas de remédios milagrosos. “Houve uma transição dessas propagandas do conteúdo orgânico para um modelo patrocinado, no qual muitos lucram com anúncios que colocam em risco a vida das pessoas”, destaca Rafael Junior. Em um trabalho conjunto entre o IEA-RP e a Rádio USP Ribeirão, utilizando ferramentas da própria plataforma Meta, como a Biblioteca de Anúncios, foram mapeadas essas campanhas em dois dias do mês de setembro (25 e 29). A estratégia foi capturar e registrar manualmente esses anúncios, uma vez que, após a veiculação, eles são removidos sem deixar rastros. Com isso, foram coletadas 513 publicidades que promoviam produtos sem mostrar comprovação científica e muitas vezes sem autorização dos órgãos reguladores. Entre os principais tópicos dessas propagandas estão tratamentos para diabete, saúde sexual, emagrecimento e problemas de visão. “O que vemos é uma mudança de paradigma proporcionada pela inteligência artificial (IA); conteúdos que antes eram restritos, na sua maioria, a textos e imagens estáticas, foram aprimorados para vídeos elaborados que manipulam imagem e voz de personalidades e autoridades. Também pode ser observado um aumento substancial em escala, com centenas e até milhares produzidos e impulsionados diariamente”, avalia Rafael Junior. O professor Fernando Bellissimo Rodrigues, infectologista e chefe do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, alerta sobre os perigos da desinformação na saúde, que se intensificam com o uso crescente das redes sociais. Segundo o especialista, a internet está repleta de informações, algumas confiáveis, outras não, e cabe ao público separar o joio do trigo. “Alertamos as pessoas para confiar menos em informações oriundas de perfis individuais nas plataformas digitais e procurar fontes mais confiáveis, como associações de profissionais da saúde ou entidades, como a Sociedade Brasileira de Geriatria ou a Associação Brasileira de Nutrição, que são mais confiáveis do que opiniões divulgadas por influenciadores nas redes sociais”, afirma. Rodrigues alerta, ainda, que a desinformação afeta de maneira desproporcional as pessoas com menor nível educacional. “A população com menor escolaridade tende a ser mais vulnerável a promessas milagrosas, embora pessoas de alta escolaridade também acabem sendo enganadas.” Padrão perigosoEssas campanhas patrocinadas, além de utilizarem imagens e logos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de maneira possivelmente fraudulenta, também exploram personalidades públicas para aumentar sua credibilidade. O levantamento revelou que 27,5% dessas propagandas utilizam a imagem do médico Drauzio Varella, uma das figuras mais respeitadas na área da saúde no Brasil. Outras personalidades, como âncoras de telejornais e artistas renomados também aparecem. As personalidades mais utilizadas nesses anúncios são, além de Drauzio Varella, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a apresentadora Ana Maria Braga e âncoras de telejornais nacionais, que alcançam milhões de pessoas. Além delas, aparece o deputado Celso Russomano e figuras como Carlos Alberto de Nóbrega e Susana Vieira, também frequentemente usadas, muitas vezes em anúncios que simulam entrevistas e programas televisivos para conferir um ar de autenticidade.  Em entrevista à Rádio USP Ribeirão Preto, o médico Drauzio Varella fez duras críticas ao uso indevido de sua imagem e voz em propagandas manipuladas por inteligência artificial que circulam pela internet. Ele classificou essas práticas como um “crime contra a saúde pública”, destacando que muitas pessoas, especialmente as mais vulneráveis, acabam acreditando que ele está de fato promovendo os produtos. “Essas propagandas de supostos medicamentos com meu nome, algumas delas até com a minha voz montada por IA, são um crime”, afirmou. Varella também mencionou o papel das plataformas de redes sociais na disseminação dessas informações falsas. Ele destacou a Meta como uma das principais responsáveis por permitir a circulação desses conteúdos. Para o médico, essas quadrilhas atuam em conivência com as plataformas, especialmente a Meta, que distribui isso para todos os lados, acrescentando que “as plataformas não têm interesse em remover os vídeos, já que lucram com a divulgação”.    O médico também revelou que está movendo uma ação contra a Meta, em função do uso da sua imagem, mas é cético quanto ao sucesso da iniciativa. “A chance de ganhar é muito pequena, porque, claro, eles são muito poderosos”, disse Varella. Apesar disso, ele mencionou uma denúncia ao Ministério Público que, segundo ele, já conseguiu identificar duas quadrilhas envolvidas nesse esquema. Para Varella, as plataformas são “tão criminosas quanto aqueles que divulgam essas falsidades”. Já a especialista em Vigilância Sanitária da Gerência de Fiscalização da Anvisa, Alessandra Pessoa, também em entrevista à Rádio USP Ribeirão Preto,destacou que o monitoramento do comércio eletrônico e da publicidade de produtos de saúde na internet se intensificou após a pandemia. “A Anvisa iniciou em 2021 o monitoramento ativo de propaganda na internet, utilizando inteligência artificial para rastrear produtos fiscalizados em plataformas de comércio on-line 24 horas por dia, sete dias por semana. Com essa iniciativa, chamada Epinette, já foram rastreadas mais de 100 milhões de páginas, das quais mais de 200 mil continham algum tipo de conteúdo irregular”, informa a especialista. Entre os principais desafios enfrentados pela Anvisa, Alessandra aponta a grande quantidade de sites e perfis que fazem publicidade de produtos regulados, além da dificuldade de caracterizar como publicidade alguns conteúdos postados nas redes sociais por figuras públicas, como artistas e esportistas, ou mesmo por profissionais de saúde de destaque. Saúde em risco Essas áreas são especialmente preocupantes, pois os produtos prometem soluções rápidas e fáceis para problemas sérios de saúde, desviando as pessoas dos tratamentos médicos apropriados. Além dessas categorias, outros temas incluem tratamentos para visão (7%), que prometem curas milagrosas para catarata e glaucoma; dermatologia (6%), com produtos que alegam reverter sinais de envelhecimento e eliminar cicatrizes; e medicamentos para gordura no fígado e dores nas articulações (6%), que geralmente têm como alvo os idosos. A análise mostra que algumas dessas propagandas chegam a afirmar, inclusive, que o produto cura o câncer.
O professor Rodrigues lembra que também há um uso indiscriminado de polivitamínicos e suplementos que, segundo ele, são amplamente propagados como essenciais para a saúde geral, o que, em muitos casos, é enganoso. “Os polivitamínicos têm indicações específicas, como em casos de deficiência vitamínica ou dificuldades de absorção, mas não são indicados para uso generalizado”, critica. Ele destacou que muitos suplementos vendidos em academias não entregam o que prometem. “A proteína de um suplemento não é melhor do que a que vem do leite, do ovo ou da carne”, pontua. O professor Rodolfo Borges dos Reis, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, vê com preocupação o crescente uso de suplementos alimentares divulgados na mídia. Segundo ele, esses produtos, por não se enquadrarem na categoria de medicamentos, não passam pelos rigorosos testes de eficácia ou regulamentação da Anvisa, o que resulta na ausência de estudos científicos que comprovem seus benefícios. “A população muitas vezes se deixa fascinar por remédios naturais que, além de serem ineficazes, podem causar danos, já que não foram devidamente testados”, alerta o professor. O professor, que é especialista em Urologia Oncológica, também destaca que a comercialização desses suplementos, muitas vezes feita por meio de plataformas digitais e impulsionada por ferramentas de inteligência artificial, seleciona grupos-alvo suscetíveis a determinadas doenças. Essa prática, segundo o professor, é preocupante, especialmente no caso de produtos que afetam o eixo hormonal e são vendidos como fitoterápicos. Ele reforça a importância de consultar um médico especialista, como um urologista, para obter orientações adequadas. “Existem medicamentos eficazes para tratar e aliviar os sintomas urinários da hiperplasia prostática benigna, além da necessidade de descartar o câncer de próstata em estágios iniciais ou avançados”, explica. Máquina de desinformaçãoO levantamento mostra que 83% dessas propagandas estão no formato de vídeos e 17% utilizam imagens estáticas tradicionais. Em relação aos vídeos, fortes evidências indicam que 62% usam manipulação por IA com informações falsas. “Esses fatores revelam uma preferência clara pela produção de vídeos, que são mais eficazes para atrair e engajar o público. É um mecanismo sofisticado que se apropria da confiança depositada nas figuras públicas e no suposto selo de aprovação da Anvisa para vender produtos duvidosos e, muitas vezes, ineficazes”, destaca Rafael Junior. A análise também revelou que 96% dos anúncios direcionam os usuários para conversas no WhatsApp, onde o vendedor mantém contato direto com a pessoa, aumentando a vulnerabilidade e a possibilidade de golpes. “Essa tática é extremamente perigosa porque o usuário é incentivado a fornecer seus dados pessoais e, muitas vezes, efetuar compras sem qualquer garantia de segurança ou qualidade”, afirma Rafael Junior.  Dados preocupantesDos 513 anúncios coletados, 73% foram veiculados simultaneamente no Facebook e no Instagram, mostrando que a Meta está diretamente envolvida em promover esses produtos. Apenas 26% dos anúncios ficaram restritos ao Facebook e 1% dos anúncios foram exclusivos do Instagram. Essa ampla distribuição é facilitada pela própria empresa, que fornece as ferramentas para segmentar e atingir diversos públicos, gerando lucros significativos com essas campanhas. O analista também chama a atenção para o fato de o Facebook, o Instagram e o WhatsApp serem produtos da empresa Meta. Os dados evidenciam que o Facebook e o Instagram hospedam essas propagandas e lucram com elas, devido ao uso intensivo de suas ferramentas de publicidade. Rafael Junior destaca que, apesar das limitações impostas pela plataforma, como a restrição de anúncios de medicamentos, que exigem prescrição médica, essas regras são facilmente contornadas pelos anunciantes. Alguns desses produtos, anunciados como naturais ou cosméticos, escapam das regulações permitindo a proliferação de informações duvidosas. Além disso, os dados também revelam que quase 80% das páginas que promovem essas propagandas são novas, criadas ainda em 2024, e cerca de 90% delas possuem menos de 2.500 seguidores, evidenciando que os responsáveis operam de maneira estratégica para evitar detecção. Caso uma página seja denunciada ou bloqueada, rapidamente outra é criada, mantendo o esquema ativo. “Esse perfil, de página pequena e recém-criada, de maneira alguma seria capaz de atingir um público mais amplo se o conteúdo não fosse impulsionado”, diz Rafael Junior. Para o analista, a prática evidencia um problema sistêmico: “O próprio Facebook se beneficia ao permitir a criação de páginas, lucrando com as propagandas enquanto alega promover segurança e regulamentação”.  Apesar dos esforços de regulamentação nas plataformas digitais para conter anúncios enganosos, o professor Rodrigues acredita que tais medidas são insuficientes. “As notícias falsas continuam circulando impunemente e há uma dificuldade tanto jurídica quanto técnica para responsabilizar os autores dessas fraudes.” A gerente de fiscalização da Anvisa alerta para os riscos associados ao consumo de produtos de saúde sem a devida orientação. “O primeiro ponto é não usar medicamentos ou produtos de saúde sem a orientação de um profissional habilitado. Outro ponto fundamental é desconfiar de produtos que prometem resultados milagrosos, como emagrecimento rápido ou cura de doenças crônicas, porque geralmente não passaram por testes ou comprovação científica”, ressalta Alessandra, enfatizando a importância de verificar se o produto está regularizado junto aos órgãos de vigilância sanitária. Essa verificação pode ser feita no site da Anvisa neste link. Para combater essas práticas, a Anvisa estabeleceu uma aproximação com diversas plataformas de comércio eletrônico, orientando-as sobre como verificar a regularização de produtos antes de serem expostos para venda. “Essa parceria já permitiu melhorias nos critérios de exposição desses produtos nos sites”, afirma. Consequências para a saúde públicaO impacto desse tipo de propaganda é profundo nas pessoas que abandonam tratamentos convencionais para adotar as soluções milagrosas apresentadas nos anúncios. Produtos que prometem cura para diabete incentivam pacientes a suspenderem o uso de insulina, enquanto remédios que alegam tratar a próstata são vendidos como alternativas aos procedimentos médicos aprovados. Em outro exemplo alarmante, medicamentos para cura de problemas de visão incentivam a suspensão de cirurgias oftalmológicas, o que pode resultar em complicações graves para os pacientes. Sobre os tratamentos milagrosos para catarata e glaucoma, a professora Cássia Senger, do Departamento de Oftalmologia e Anomalias Craniofaciais da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU) da USP, alerta para os perigos de confiar em promessas de cura rápida e soluções não comprovadas. “É fundamental que as pessoas entendam que não há uma cura milagrosa para as doenças crônicas degenerativas”, enfatiza. Ela destaca a importância de buscar informações seguras, consultando a literatura científica e verificando se o tratamento sugerido é regulamentado pelos órgãos de saúde. A professora também chama a atenção para os riscos do abandono de tratamentos convencionais, especialmente no caso do glaucoma, uma doença degenerativa e irreversível. “O paciente que para o tratamento indicado e adota medidas alternativas acaba perdendo o acompanhamento adequado. O glaucoma é uma doença silenciosa, sem dor ou incômodo, e quando o paciente percebe, a perda da visão já ocorreu e é irreversível.” Além disso, ela ressalta que, no caso da catarata, a única solução viável atualmente é a cirurgia. “Não existe colírio, exercício ou medicação oral que resolva a catarata. A cirurgia é o único tratamento eficaz, e o atraso na realização desse procedimento pode aumentar os riscos.” A oftalmologista reforça a necessidade de campanhas de conscientização. “A comunidade oftalmológica busca colaborar e combater a desinformação, promovendo acesso a informações corretas e seguras sobre as doenças oculares, especialmente através do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.” Caminhos para o combate à desinformaçãoPelos riscos que oferecem, as plataformas digitais precisam ser responsabilizadas e reguladas com maior rigor para impedir que continuem lucrando com anúncios que promovem desinformação e produtos duvidosos. “Além disso, campanhas de conscientização e verificação de informações, especialmente em temas relacionados à saúde, devem ser ampliadas”, enfatizam todos os entrevistados. Sobre a importância de uma legislação mais rigorosa para combater a desinformação na área da saúde, a professora Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP e líder do Grupo de Pesquisa Direito, Ética e Inteligência Artificial do CNPq-USP, destacou que a disseminação de informações falsas, especialmente durante crises sanitárias como a pandemia da covid-19, motivou a apresentação de projetos de lei no Brasil. “Um exemplo é o PL 693/2020, que trata da responsabilidade sanitária das autoridades públicas e tipifica o crime de divulgação de informações falsas que coloquem em risco a segurança sanitária.” Segundo a professora, embora já existam iniciativas como o Projeto de Lei 2630/2020, conhecido como o “PL das Fake News”, que visa à responsabilização das plataformas digitais, a eficácia dessas medidas depende da conscientização da população. “Podemos criar leis rigorosas, mas, sem educação, o combate à desinformação será limitado, especialmente na área da saúde”, alerta a professora. Cristina Godoy também ressaltou o papel das plataformas digitais na disseminação de informações falsas e como estas devem ser responsabilizadas ao serem notificadas judicialmente sobre conteúdos nocivos à saúde. Ela explicou que, além de remover o conteúdo prejudicial, as plataformas devem estar sujeitas a uma regulamentação mais rígida. “O debate sobre o papel dessas plataformas está presente em fóruns nacionais e internacionais, como exemplificado pela União Europeia, que já adotou medidas para impor responsabilidades mais severas às empresas digitais.” A professora Cristina, que também coordena o Grupo de Estudos em Direito e Tecnologia (TechLaw) do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto (IEA-RP) da USP, enfatizou que, além de uma legislação adequada, é essencial o desenvolvimento de estratégias educacionais para que a sociedade saiba identificar e evitar a desinformação, principalmente no campo da saúde. Ela citou, como exemplo, o guia virtual elaborado em parceria com a Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, voltado para a capacitação de agentes de saúde no combate às notícias falsas | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | SUS: Quem tem medo da Carreira ÚnicaNum debate em Fortaleza, surgem dois consensos. Para oferecer atendimento digno em todo o país, a Saúde Pública precisa garantir perspectivas e mobilidade a seus profissionais. Mas o Estado neoliberal brasileiro rejeita a lógica dos direitos… Como enfrentar a dificuldade crônica de garantir quantidade adequada de profissionais no Sistema Único de Saúde (SUS) – em especial nas regiões mais vulneráveis e afastadas? Um consenso crescente entre entidades sindicais, gestores da Saúde e movimento sanitário sugere que é preciso apresentar um plano de carreira único para toda a rede. Ele deverá valorizar e garantir melhores condições de atuação para os trabalhadores da saúde pública em cada canto do país. Em janeiro, o debate começou a tomar contornos mais concretos com a criação da Comissão para Discussão e Elaboração de Proposta de Carreiras no âmbito do SUS (CDEPCA/SUS), composta por uma ampla representação da sociedade e dos órgãos de Estado. E os primeiros frutos apareceram em mesa no 5º Congresso de Política, Planejamento e Gestão em Saúde da Abrasco, em Fortaleza (CE). Isabela Pinto, responsável pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde, trouxe novas informações sobre como andam os esforços de construção coletiva da carreira única do SUS. O processo é gradual. A etapa ainda é a de debater quais serão as diretrizes nacionais do plano de carreira. Mas Isabela adianta que o modelo será de adesão voluntária entre os estados e municípios, para estimular a conscientização das autoridades locais. As pequenas e médias cidades, receosas devido a suas “fragilidades fiscais e financeiras”, na definição da secretária, são um ator que ainda exige maior convencimento. Debate-se como solução criar um novo fundo tripartite para financiar os aumentos salariais e de benefícios dos trabalhadores, que viriam com a progressão de carreira. Mas há um desafio: como destacou a titular da SGTES, a proposta precisaria ter a anuência também de outros ministérios, como o da Fazenda. Indo ao centro do problema “econômico”, Graça Druck, professora da UFBA também presente na mesa, trouxe um importante alerta: é decisiva e muito bem-vinda a formulação em detalhes do futuro plano de carreira do SUS. Mas para isso, a revogação das contrarreformas neoliberais dos últimos 30 anos não pode ficar esquecida. Com amarras como a Lei das OSs, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Reforma Trabalhista e da Previdência e inclusive o novo Arcabouço Fiscal, a verdadeira valorização dos trabalhadores do SUS terá enormes dificuldades de implementação – e seguirá sendo um sonho distante. Corrigir debilidades da redeAntes mesmo da criação da Comissão que agora organiza uma proposta, a vitória do campo democrático nas eleições de 2022 já havia infundido novo fôlego para a bandeira da carreira única do SUS. Como destacou Outra Saúde à época, após os trabalhos da 17ª Conferência Nacional de Saúde, em julho do ano passado, uma resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) defendeu “criar a Carreira Única Interfederativa, com financiamento tripartite, piso salarial nacional para todas as categorias profissionais, contratação exclusiva por concurso público, combate à terceirização, valorização das pessoas trabalhadoras da saúde e priorização das que trabalham no território, ampliação das políticas de educação permanente, atendendo as reais necessidades da população brasileira”. No fundamental, a resolução do CNS reúne as propostas sustentadas pelos movimentos sociais e entidades de trabalhadores e usuários do SUS para um plano de carreira na saúde pública. Cada um dos pontos corresponde a uma debilidade percebida na rede durante as últimas décadas – o subfinanciamento, a falta de perspectiva de avanço na carreira para os concursados, a penetração indevida de Organizações Sociais da Saúde (OSS) e empresas terceirizadas, a insuficiência dos esforços de educação em saúde e assim por diante. Não são meros problemas teóricos ou conceituais. Na concretude da vida, eles se expressam no desinteresse dos trabalhadores de diversas categorias (não só a dos médicos, como muitos acreditam) pelos concursos das prefeituras. Estes são percebidos como “atoleiros” em termos de progressão salarial, além do conhecido risco de passar vários meses sem receber os vencimentos. Os planos de carreira locais não são considerados atrativos. A situação se agrava nas regiões mais pobres e distantes, onde os profissionais sentem não receber incentivos suficientes do poder público para se instalar – resultando em vazios de assistência, que prejudicam fortemente a população dessas localidades. Diretrizes em discussãoPara enfrentar esse cenário, a secretária Isabela Pinto afirmou que o plano de carreiras do SUS é uma “pauta prioritária na gestão da ministra Nísia Trindade”. Ela defende que a SGTES, sua pasta dentro do MS, “entende a carreira única como uma estratégia para a valorização dos trabalhadores da saúde”. “Ou a gente investe no trabalho e na educação ou vamos estar, daqui a dez, anos discutindo os mesmos problemas em outro congresso”, afirmou. O censo das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), recentemente noticiado por este boletim, foi apresentado pela secretária como uma importante ferramenta para diagnosticar as medidas necessárias para apoiar os trabalhadores da rede. “Com ele, nós conseguimos fazer um recenseamento da força de trabalho e ter dados atualizados e confiáveis para saber quais são as demandas de cada local, os problemas que os profissionais vivem”, ela contou. A vasta presença do que a titular da SGTES chamou, algo eufemisticamente, de “modelos alternativos de gestão” – isto é, as OSs, as terceirizadas, as filantrópicas – foi uma das principais conclusões dos recenseamentos do SUS. As várias formas de privatização tendem a ser associadas à piora das condições de trabalho. Por isso, Isabela afirma que a comissão pretende “enfrentar a precarização garantindo trabalho digno” e que, em sua secretaria, “defendemos que seja por concurso público”. Além do aspecto de valorização, a contratação via concurso ajudaria a “vincular o trabalhador ao projeto do SUS”. Apesar disso, vale notar que a secretária não chegou a afirmar que a Comissão pretende definir os concursos como único método de contratação para acessar o plano de carreira. Entre as demais diretrizes nacionais discutidas, Isabela Pinto citou a introdução de novas “avaliações de desempenho”, a implementação de pisos salariais para as categorias que sejam igualitários “de Norte a Sul do país” e o aprofundamento da discussão com o Ministério da Educação sobre a regulamentação da educação permanente no SUS. Ainda em discussão, mas de forma menos desenvolvida, estão formas de possibilitar ao trabalhador a mobilidade entre equipamentos federais, estaduais e municipais, partindo do princípio de que haverá um só plano de carreira entre todas essas instâncias. “Falar de carreira é pensar a trajetória desse trabalhador”, afirmou a secretária, e “dar importância à gente que faz o SUS acontecer, pensando a educação e o trabalho para o desenvolvimento”. Isabela também convocou os presentes no 5º PPGS a participar da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que segundo ela será decisiva para dar novo impulso à participação social nas discussões sobre a carreira única do SUS. A Conferência acontecerá em Brasília (DF) de 10 a 13 de dezembro. “Será a primeira conferência em 18 anos e um espaço muito importante” para subsidiar as discussões e elaborações que ocorrem na CDEPCA/SUS. De onde virão os recursosAlém dos detalhes técnicos apresentados pela secretária, é determinante para a viabilização de uma proposta de carreira única para o SUS a garantia dos recursos necessários para implementá-la. Em tempos de embates em torno de um ajuste fiscal nas áreas sociais e uma possível quebra do piso constitucional da Saúde, é natural a dúvida sobre se haverá recursos para um novo programa. Para além do âmbito federal, é sabido que as gestões locais, devido à Lei de Responsabilidade Fiscal e outros entraves, têm apostado cada vez menos na administração direta do SUS. Já em resposta à questão que pairava no ar, a representante do Ministério da Saúde revelou que se discute uma proposta de fundo tripartite para financiar o plano de carreira do SUS. “Há um estudo que a Comissão está fazendo em diálogo com outros setores do Governo, como o Ministério da Fazenda, para identificar condições de viabilidade. A ideia é dividir essa responsabilidade tripartite com os Estados e municípios que aderirem”, contou Isabela. Em um momento em que ainda é nebulosa a previsão sobre a implementação desse Fundo, a participação no 5º PPGS da economista e professora da UFBA Graça Druck, que estuda atentamente o fenômeno da precarização das relações de trabalho no neoliberalismo, veio em boa hora. Graça colocou na mesa um debate mais amplo: os impedimentos à valorização dos trabalhadores do SUS não estão aí simplesmente pela falta de mecanismos que encaminhem recursos para esse fim no atual Orçamento. Eles têm origem na constituição de um “Estado neoliberal” no Brasil ao longo das três últimas décadas, com regras vinculantes e punitivas que tentam inviabilizar o gasto público em áreas sociais. Por isso, garantir um plano de carreira digno, que estimule os trabalhadores a se envolverem cada vez mais com o SUS, não pode deixar de passar pela revisão de leis problemáticas do século passado (como a Lei das OSs e a Lei de Responsabilidade Fiscal), de décadas passadas (a exemplo da Reforma Trabalhista e da Reforma da Previdência) e mesmo dos últimos anos – como o tão polêmico Arcabouço Fiscal, que está constrangendo o próprio Governo que o aprovou a buscar “mexer nos gastos públicos sem mexer com o setor financeiro”. “Pensar numa carreira única no SUS e pensar em um trabalho digno, humanizado, decente e seguro não é possível se não lutarmos contra a austeridade fiscal”, concluiu a professora Graça Druck. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Tuberculose: nas vacinas, uma esperançaA doença é a mais letal e a mais antiga do mundo. Três imunizantes que podem contê-la estão em fase avançada de estudos – e um Conselho Acelerador da OMS busca direcionar investimentos e traçar estratégias para distribuí-la de forma igualitária Por Shelly Malhotra e Mike Frick, no Health Policy Watch | Tradução: Gabriela Leite Nesta semana, especialistas e formuladores de políticas estão reunidos na Conferência Mundial sobre Saúde Pulmonar da organização The Union para discutir a tuberculose. Trata-se da doença infecciosa mais letal e mais negligenciada do mundo. Desde o início do século 20, mais de um bilhão de pessoas morreram de tuberculose – um número de mortes maior que o de malária, varíola, HIV/aids, cólera, peste e gripe combinados. A meta oficial da ONU de reduzir as mortes por tuberculose em 75% entre 2015 e 2025 agora está fora de alcance. E muitos acreditam que a meta de 2030, de reduzir a doença em 90%, também será difícil de ser conquistada – a menos que haja um aumento urgente nos investimentos em novas ferramentas que ajudem a controlar a curva da epidemia. Vacina promissoraOs avanços científicos na tuberculose, nos últimos cinco anos, estão trazendo mudanças importantes na forma como a doença é tratada. Outro fator importante: também avançam as pesquisas que possibilitarão o desenvolvimento de uma vacina há muito esperada – historicamente necessária para acabar com a crise de saúde pública causada pela tuberculose. A vacina BCG (Bacillus Calmette-Guérin), com mais de 100 anos, ainda é a única que ajuda a prevenir a tuberculose. Ela é administrada principalmente em bebês e crianças para prevenir formas mais graves, como a meningite tuberculosa, que afeta o cérebro. No entanto, a vacina é essencialmente ineficaz para os mais de nove milhões de adultos e adolescentes que desenvolvem a doença a cada ano. Isso pode mudar nos próximos anos, se uma das três vacinas preventivas atualmente em fase III de testes demonstrar segurança e eficácia. São elas: a MTBVAC, financiada pela IAVI e Biofabri; a M72/AS01E, apoiada pelo Gates Medical Research Institute; e a candidata VPM1002 do Instituto Serum. No entanto, será necessário financiamento adequado para que isso se torne realidade. Infelizmente, financiamento adequado é algo que a tuberculose nunca teve, mesmo sendo uma doença que afeta desproporcionalmente as populações mais pobres do mundo. A ciência nos trouxe até aqui e agora é hora de concluir o trabalho – não podemos esperar outros cem anos para finalmente entregar uma vacina de ampla eficácia. Enquanto aguardamos os resultados dos ensaios clínicos, também precisamos começar a nos preparar para a sua possível distribuição. Como evitar a desigualdade vacinalA compreensão clara da escala da demanda por vacinas contra a tuberculose será essencial para garantir que a capacidade de produção adequada seja construída e mantida para entregar as doses necessárias – uma vez que uma nova vacina seja licenciada por agências reguladoras e recomendada por autoridades de saúde pública. Este é um novo terreno para a resposta à doença e será um empreendimento custoso, que exigirá um tempo significativo de preparação. A resposta à covid-19 trouxe alguns ensinamentos valiosos sobre o que pode ser realizado com investimentos adequados no desenvolvimento clínico, redução de riscos na ampliação da produção e ampla distribuição de vacinas. Ao mesmo tempo, escancarou desigualdades na oferta entre países que produzem e os que não produzem vacinas – além de incentivar um movimento pela produção regional soberana. Conselho Acelerador da Vacina contra a TuberculoseO Conselho Acelerador da Vacina contra a Tuberculose foi anunciado no ano passado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em parceria com ministros da Saúde de vários países onde a doença está presente, além de bancos de investimento e principais organizações filantrópicas. Ele pode ajudar a estabelecer as bases nos próximos anos para a distribuição eficaz de novas vacinas contra a tuberculose, principalmente para pessoas que vivem em países onde a prevalência da doença é mais alta. Este objetivo deve ser atingido com a urgência da resposta à covid – mas com um compromisso inabalável com a equidade que a resposta à covid não teve. Os esforços do Conselho receberam um apoio no início deste ano, quando a Gavi, a Aliança de Vacinas, decidiu incluir as vacinas contra a tuberculose como parte de sua estratégia de investimento. O financiamento da Gavi fornecerá uma linha de suporte essencial para garantir a disponibilidade dessas vacinas nos 54 países elegíveis para seu apoio. O apoio da Gavi será instrumental, pois poderá assegurar os recursos necessários para que esses países financiem a aquisição de vacinas. Mas também servirá para apoiar o estabelecimento de canais de distribuição para alcançar populações adultas e adolescentes. Esses públicos são fundamentais para conter o avanço de novas infecções, mas estão fora dos programas de imunização infantil rotineiros. Desafios enfrentados pelos países onde a tuberculose é mais graveEm paralelo, são necessárias estratégias para apoiar o acesso às vacinas contra a tuberculose em países de renda média que, tendo sido elegíveis para o apoio da Gavi ou não, enfrentam o maior número de casos da doença. Essas estratégias devem incluir investimentos em plataformas de distribuição de vacinas e mecanismos para que os países façam compras em grupo, inclusive regionalmente, para aproveitar o volume coletivo em prol de um maior poder de negociação. Todos os que estão reunidos na Conferência da União nesta semana também devem considerar soluções políticas que indiretamente permitiriam aos países de renda média investir mais em sistemas de saúde e entrega de vacinas, incluindo perdão e alívio da dívida soberana.
| A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | 1. As relações primordiais entre a Farma norte-americana, suas guerras e o Estado Tanto o apoio estatal quanto as guerras que o país enfrentou ajudaram no nascimento da indústria farmacêutica nos EUA. A Pfizer foi fundada em 1849 por dois químicos imigrantes alemães e seu negócio expandiu-se rapidamente durante a Guerra Civil. Outro personagem histórico foi o coronel Eli Lilly que serviu na mesma guerra e após seu término, em 1876, abriu a empresa farmacêutica que, até hoje, leva seu nome. Outro militar na história da indústria farmacêutica nos EUA foi Edward Squibb, que foi médico naval durante a guerra mexicano-americana, fundou sua empresa em 1858 e também colaborou na Guerra Civil. No século XX, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Bayer (alemã) teve a marca registrada da aspirina e seus ativos apreendidos nos EUA, enquanto a Merck foi compulsoriamente separada de sua matriz, também alemã. Durante a 2ª Guerra Mundial, aquela que foi, talvez, a descoberta farmacêutica de maior impacto na história, a penicilina, teve sua produção industrial integralmente comprada pelo governo norte-americano por ocasião da entrada dos EUA na guerra. A produção industrial foi realizada por várias empresas, incluindo Merck, Pfizer e Squibb. 2. A Big Pharma norte americana é hegemônica no mundo É flagrante a hegemonia mundial da Big Pharma dos Estados Unidos da América (EUA). Em 2023, o mercado mundial de medicamentos atingiu cerca de 1,5 trilhão de dólares. Nesse mercado, em 2021, seis dentre as 10 campeãs de vendas eram estadunidenses. Aliás, o mercado farmacêutico nos EUA (2022) responde por 42,6% do mercado mundial. Finalmente, dentre todos os setores que fazem lobby junto ao Congresso e governo nos EUA, a Big Pharma é, de longe, a que mais despende recursos. Foram 378,6 milhões de dólares em 2023. A hegemonia da Big Pharma norte-americana não é apenas produtiva e comercial, mas também política. Isso ficou marcado com a regulação global da Propriedade Intelectual (PI) ocorrida em 1994 com a assinatura do acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), no bojo da criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1995. O ingresso na OMC foi vinculado à assinatura do TRIPS. Esse movimento político e diplomático teve na indústria farmacêutica norte-americana um papel de grande liderança, associada com farmacêuticas de outros países detentores de grande número de patentes. O TRIPS enquadra o regime mundial de Propriedade Industrial (PI) segundo regras draconianas, prevendo, inclusive que o descumprimento de seus dispositivos deve ser questionado apenas na própria OMC. O papel das farmacêuticas do país durante a pandemia de COVID, ao atuar na OMC contra a concessão de um waiver nas patentes de vacinas antiCovid proposto por Índia e África do Sul, confirma essa liderança. 3. A Big Pharma e a financeirização: um rizoma empresarial [1] O deslocamento da indústria farmacêutica em direção a tornar-se uma Big Pharma não foi um movimento exclusivo dela. Ele se deu pari passu ao processo de financeirização das relações econômicas mundiais operado sob a liderança dos EUA. Resumidamente, a financeirização nas farmacêuticas significou subordinar os objetivos precípuos da empresa a outros, de ordem exclusivamente financeira, e isso se deu mediante aumentos significativos do pagamento de dividendos a grandes acionistas (investidores institucionais) em detrimento de investimentos em infraestrutura, P&D e produção. Esses acionistas são atores fora do corpo dirigente das empresas, acima dos executivos, e seus interesses não têm ligação direta com a produção de medicamentos. Em outros termos, são atores que governam os que deveriam governar. São pessoas jurídicas representantes de grandes conglomerados financeiros – bancos, fundos de investimento, patrimônios de famílias muito ricas, etc. Além disso, esses investidores se organizam como um rizoma, pois atuam em múltiplas empresas e dão origem ao que é conhecido como ‘propriedade comum’, que é generalizada na indústria farmacêutica dos EUA. Em 2014, por exemplo, o maior investidor nas então três maiores empresas farmacêuticas (Johnson & Johnson, Merck e Pfizer) foi o mesmo (BlackRock, Inc.), conforme a figura abaixo. 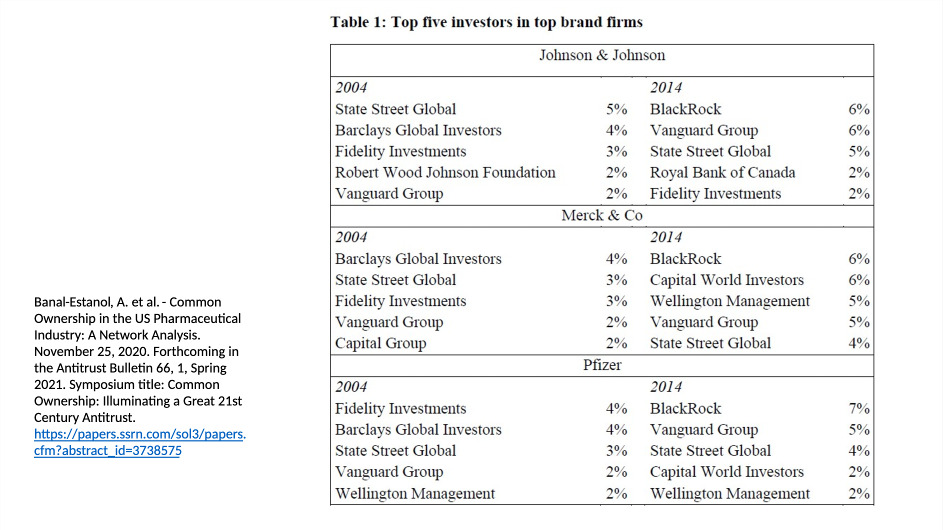 Essa é a regra, não a exceção [2]. Essas três empresas farmacêuticas compartilham outros grandes investidores que, por sua vez, participam como investidores em várias outras farmacêuticas. Desse rizoma de interesses exclusivamente financeiros resulta que quem define muitas das estratégias das farmacêuticas são esses investidores e não os executivos (presidentes e diretores). E que, se investidores compartilham farmacêuticas e vice-versa, além de estratégias eles podem estar a definir também decisões executivas. Na figura abaixo, a evolução do rizoma entre 2004 e 2014 é apresentada. Em 2024, a rede de controle deve ser ainda maior. 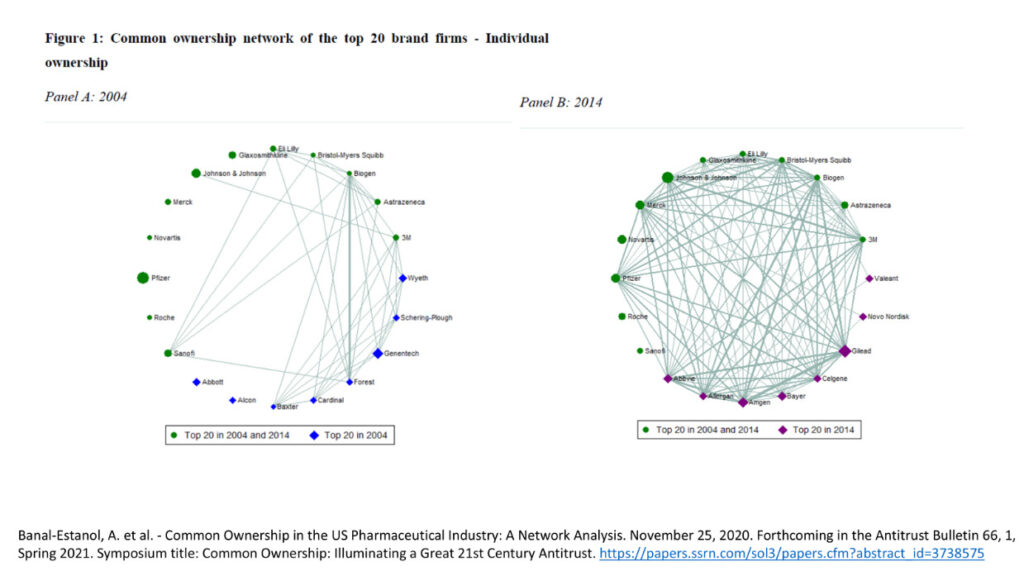 Em paralelo ao aprofundamento da financeirização e da nova regulação global da PI, nas décadas de 1980 e 1990 a indústria farmacêutica testemunhou, atuou e usufruiu de um conjunto de novos conceitos e práticas científicas, tecnológicas, organizacionais, produtivas e comerciais que estabeleceram sua face atual de Big Pharma. A primeira delas foi a explosão científica ocorrida com a constituição da família das “ômicas” – genômica, proteômica, etc. – apoiada pelo National Institute of Health (NIH) que, entre outros avanços, abriu novas avenidas na compreensão da interação entre medicamentos e o organismo humano. A tradução tecnológica dessas conquistas foi o desenvolvimento de uma nova rota para a produção de medicamentos, da síntese química para a biotecnologia. A introdução da biotecnologia nas farmacêuticas colocou um desafio para empresários e técnicos formados no ambiente da química fina, super0 | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

















Comentários
Postar um comentário