MEIO AMBIENTE
A A | Delegação brasileira visitou modelos público e privado de tratamento e transformação de lixoBrasil61Representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, agências reguladoras e parlamentares conheceram nesta quarta-feira, 30 de abril, dois empreendimentos de referência em gestão de resíduos sólidos urbanos na Itália. A agenda técnica, parte do Benchmarking Internacional Saneamento e Resíduos Itália–Portugal, incluiu visitas à central da empresa pública A2A, na província de Pavia, e à planta da empresa REA, localizada em Dalmine, na província de Bérgamo, também na região da Lombardia.
Representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, agências reguladoras e parlamentares conheceram nesta quarta-feira, 30 de abril, dois empreendimentos de referência em gestão de resíduos sólidos urbanos na Itália. A agenda técnica, parte do Benchmarking Internacional Saneamento e Resíduos Itália–Portugal, incluiu visitas à central da empresa pública A2A, na província de Pavia, e à planta da empresa REA, localizada em Dalmine, na província de Bérgamo, também na região da Lombardia. Os encontros mostraram como diferentes tecnologias — da compostagem à incineração com reaproveitamento energético — podem compor um sistema integrado de valorização de resíduos, com benefícios ambientais, econômicos e sociais. A missão brasileira também ouviu os gestores locais sobre as tecnologias empregadas, custos operacionais e modelos de negócio adotados. O secretário de Fundos e Instrumentos Financeiros, Eduardo Tavares, destacou que o maior desafio brasileiro ainda é básico: resolver a presença de mais de 3 mil lixões ativos no país. “A solução não é padronizada, principalmente porque, para a maioria dos 5.570 municípios, a resposta individualizada não é viável. Então é preciso pensar regionalmente: que tipo de arranjo e tecnologia pode garantir um custeio viável, com modicidade tarifária e, ao mesmo tempo, resolver o problema da destinação que tem contaminado nossas águas e comprometido a saúde da população” O responsável pelo desenvolvimento de negócios da REA, William Epis, vê no Brasil um potencial estratégico, mas alerta que o ambiente de negócios precisa oferecer investimentos massivos e segurança contratual para atrair investidores. Ao final das visitas, o secretário Eduardo Tavares reforçou o compromisso do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em estruturar soluções viáveis para os municípios brasileiros. O Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, FDRIS, e a modelagem de concessões e parcerias público-privadas, podem ser um grande diferencial em projetos estruturados, com viabilidade técnica, jurídica e econômica. Reportagem Giulia Luchetta | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | SGB afirma que Brasil tem cerca de 23% das reservas mundiais de terras rarasRevista Brasil MineralO Serviço Geológico do Brasil (SGB) informa que o País é o maior detentor global de reservas de nióbio (94%) – com 16 milhões de toneladas. No ranking global, é o segundo maior em reservas de grafita, com 74 milhões de toneladas (26%), e de terras raras, com 21 milhões de toneladas (23%) O Serviço Geológico do Brasil (SGB) informa que o País é o maior detentor global de reservas de nióbio (94%) – com 16 milhões de toneladas. No ranking global, é o segundo maior em reservas de grafita, com 74 milhões de toneladas (26%), e de terras raras, com 21 milhões de toneladas (23%). No caso do níquel, o Brasil possui a terceira maior reserva global, com 16 milhões de toneladas (12%) das reservas mundiais. Os dados são apresentados na publicação “Uma Visão Geral do Potencial de Minerais Críticos e Estratégicos do Brasil”, do SGB. “O trabalho que realizamos subsidia políticas públicas, orienta investimentos privados e fortalece a presença do Brasil em cadeias produtivas globais essenciais para a transição energética, segurança alimentar e o desenvolvimento tecnológico”, destaca o diretor-presidente do SGB, Inácio Melo. Para Melo, os desafios do Brasil para as próximas décadas são ampliar o conhecimento geológico e transformar o enorme potencial geológico dos recursos minerais estratégicos em reservas minerais explotáveis e bem conhecidas. “Precisamos descobrir novas ocorrências e superar as limitações tecnológicas e logísticas”, afirmou. Apesar do potencial mineral, o país produziu, em 2024, apenas 20 toneladas de terras raras, menos de 1% da produção mundial, que foi de 390 mil toneladas. Atualmente, a China lidera os volumes de suas reservas e produção de elementos terras raras, mas, sobretudo, na cadeia tecnológica de separação e refino para obtenção de óxidos de alta pureza (em inglês, REO). “Parcerias entre o SGB, outras ICTs e o setor privado serão o caminho seguro para o desenvolvimento de novas tecnologias que se tornarão a chave para o Brasil transformar recursos estimados em depósitos minerais medidos e viáveis economicamente”, destaca o diretor-presidente. A maior parte dos recursos medidos de Elementos Terras Raras (ETRs) no Brasil está concentrada, principalmente, nos estados de Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Bahia, além de Sergipe. Esses estados abrigam os principais tipos de depósitos com potencial econômico de ETRs, conforme levantamentos do SGB, da Agência Nacional de Mineração (ANM) e de estudos técnicos consolidados. As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos com propriedades similares encontradas em alguns minerais. São definidos como terras raras os 15 lantanídeos, além do escândio e do ítrio. Os principais elementos são os utilizados para fabricação dos ímãs magnéticos, que são o neodímio, praseodímio, térbio e o disprósio. Os elementos terras raras são encontrados como produtos secundários em depósitos de outros bens minerais, principalmente em depósitos de nióbio e fosfato (PO4). Dos mais de 200 minerais que contêm ETR, apenas alguns têm potencial para formar depósitos econômicos desses elementos e são explorados atualmente: bastnaesita, monazita, xenotímio e loparita. Apesar de não serem escassos na natureza, os elementos terras raras (ETR) são considerados críticos devido à complexidade dos processos envolvidos em sua extração e beneficiamento. Os elementos terras raras são usados para melhorar a eficiência de diversos produtos de alta tecnologia e de energia limpa, com destaque para a aplicação em turbinas eólicas e motores elétricos, além da aplicação em equipamentos aeroespaciais, como satélites, foguetes e mísseis. Os elementos têm altas propriedades magnéticas, elétricas, catalíticas e luminescentes. O Serviço Geológico do Brasil (SGB) desenvolve estudos para identificar áreas com potencial e impulsionar o desenvolvimento da cadeia de valor de terras raras. A principal iniciativa é o Projeto de Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil, inserido na linha de atuação “Minerais Estratégicos para Transição Energética”, dentro da Ação do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC do governo federal. Atualmente, o projeto desenvolve atividades nos estados de Goiás e Tocantins (Província Estanífera de Goiás), Minas Gerais (Província Alto Paranaíba), Bahia (Província Jequié e região de Prado) e Paraná, São Paulo e Santa Catarina (Vale do Ribeira). Além desse projeto, há outras pesquisas do SGB relacionadas a terras raras em áreas potenciais dos estados Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Piauí. A Elevação do Rio Grande também tem sido estudada. Em todo o país, o SGB realiza pesquisas sobre o potencial mineral e identifica áreas com indícios favoráveis à presença de elementos terras raras e outros minerais estratégicos. Em Araxá (MG), os minerais com terras raras nas rochas alcalinas são apatita e calcita. Na região de Poços de Caldas (MG), há diversas empresas de mineração pesquisando para terras raras e já identificaram recursos de 950 milhões de toneladas com teor de 0,25% de TREO. As pesquisas do SGB também indicam ocorrências de terras raras no município de Tapira (MG), conhecido pelas mineralizações de fosfato, nióbio e titânio. Já em Goiás, o SGB cita o município de Minaçu (GO) como destaque, com recursos estimados de 910 milhões de toneladas. É a primeira mina fora da Ásia a operar um depósito de argila iônica – um tipo de mineralização considerada a principal fonte de terras raras pesadas do mundo e que possui o processo de extração de ETR com maior rentabilidade. Até então, apenas a China produzia terras raras em depósitos desse tipo. A mina de Serra Verde possui recursos medidos de cerca de 22 milhões de toneladas, conforme o relatório técnico da empresa de 2015. O termo produção industrial de terras raras refere-se ao conjunto de operações, como processos físicos, químicos e metalúrgicos, necessários para transformar minérios contendo ETRs em produtos comercializáveis em escala industrial, em especial os óxidos de terras raras – produtos de alto valor agregado. A Mineração Serra Verde, em Minaçu (GO), comercializa como produto final um concentrado misto de óxidos de terras raras (REO – Rare Earth Oxides), com destaque para os elementos magnéticos críticos. Em Nova Roma (GO), há um projeto com recursos de terras raras estimados em 168,1 milhões de toneladas. Além disso, há ocorrências nas regiões de Catalão (GO) e em outros corpos graníticos da Província Estanífera de Goiás (GO). No Amazonas, há ocorrências identificadas no depósito de Seis Lagos, um depósito de nióbio com altas concentrações de terras raras. O recurso estimado é de 43,5 milhões de toneladas de ETR. É importante reforçar que a região é uma reserva legal indígena, portanto, a exploração é impedida por restrições legais, enquanto o depósito de Pitinga, no município de Presidente Figueiredo (AM), é também conhecido como distrito mineiro de vários bens minerais, dos quais a cassiterita é o bem mineral principal. Os elementos terras raras são encontradas nos minerais xenotima, gagarinita, niobidatos e fluocerita. Desses, a xenotima é o principal mineral com terras raras. Esse depósito é considerado um dos poucos com potencial expressivo de ETRs pesados, mas ainda sem exploração dedicada. Na Bahia, o Complexo de Jequié tem depósito de bauxita conhecido e recentemente uma província mineral constatou com mineralizações de alto teor de terras raras (11,2% de TREO) associados a outros bens minerais como nióbio, urânio, tântalo, escândio, bauxita e gálio no Projeto Pelé. O depósito pesquisado pela Brazilian Rare Earth tem mineralização associada a rocha com teor de até 40,5% de TREO no Projeto Velhinhas e em rocha alterada, denominada areais de monazita que chegam a teor de 7, 9% no projeto Pelé. Além deste, na região de Prado há depósito de monazita em minerais pesados da planície costeira. No início do século passado, a região de Cumuruxatiba foi produtora de monazita. Por último, em Sergipe, na porção norte do estado, há depósito de monazita em minerais pesados em antigos cordões litorâneos e dunas do delta do Rio São Francisco. Há recursos JORC totais de 196 milhões de toneladas com 0,4% de concentrado de monazita. Este é um novo projeto na região. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Adutora do Seridó vai levar água do Velho Chico para o sertão potiguarAgência do RádioA comitiva liderada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional Waldez Góes encerrou a agenda do Caminho das Águas desta quinta-feira (12) com visita à Estação de Tratamento de Água 1 da Adutora do Seridó, localizada no município de Jucurutu, no Rio Grande do Norte. Essa é mais uma obra de infraestrutura hídrica presente na carteira do Novo PAC que vai levar água do rio São Francisco para a população potiguar. A comitiva liderada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional Waldez Góes encerrou a agenda do Caminho das Águas desta quinta-feira (12) com visita à Estação de Tratamento de Água 1 da Adutora do Seridó, localizada no município de Jucurutu, no Rio Grande do Norte. Essa é mais uma obra de infraestrutura hídrica presente na carteira do Novo PAC que vai levar água do rio São Francisco para a população potiguar. Durante a visita técnica, o ministro Waldez Góes relembrou o compromisso do presidente Lula, desde o início de seu mandato, com as obras de segurança hídrica no Nordeste. “Quem fez o orçamento de 2023 não botou dinheiro para essas obras de segurança hídrica. Aí o presidente Lula preparou a PEC da Transição e apresentou ao Congresso. Depois, o ministro Rui Costa construiu o Novo PAC, ouvindo os governadores, e criou o eixo Água para Todos, que trata de revitalização de bacias, de obras de infraestrutura hídrica, de tecnologia social e de abastecimento, e destinou R$ 30 bilhões”, afirmou. A ETA‑1 (EB1) capta água da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, trata e envia para Jucurutu, Florânia, Currais Novos, Cruzeta e São Vicente por meio da Adutora do Seridó. O diferencial dessa obra é que, em caso de necessidade, a estrutura poderá também captar água da barragem de Oiticica, garantindo segurança hídrica para a região. O secretário nacional de Segurança Hídrica do MIDR, Giuseppe Vieira, explicou que a água vai ser distribuída já tratada. “A água vai passar por todo o sistema de tratamento na estação para depois ser disponibilizada através das redes adutoras para todas as cidades beneficiadas no Seridó, que é a região que mais sofre com seca e estiagem no Rio Grande do Norte”, destacou. Avanço da obraCom 112 quilômetros de extensão e 81% de avanço das obras, a Adutora do Seridó já recebeu mais de R$ 310 milhões em investimentos. A capacidade de adução de água chega a 375 litros por segundo. “É garantia de segurança hídrica para 50 anos”, disse Flávio Fernandes, analista em desenvolvimento regional da Codevasf e fiscal da obra. A governadora do Rio Grande do Norte acompanhou a visita e celebrou o avanço dos trabalhos. “Essa estação de tratamento aqui em Jucurutu, que distribuirá as águas do São Francisco via sistema Adutor do Seridó, é mais um sonho, porque se soma à barragem de Oiticica — que nós já entregamos recentemente, inclusive com a presença do presidente Lula — à passagem das Traíras e a primeira etapa do Ramal do Apodi. Então é um momento realmente para a gente celebrar”, declarou. O prefeito de Currais Novos, Lucas Galvão, agradeceu o empenho do Governo Federal em garantir que a obra seja concluída com rapidez para atender a população. “A gente vive na região que menos chove do Seridó, já passamos maus momentos, mas é gratificante ver a obra avançando para atender nossa população”, disse. O sistema tem capacidade para atender inicialmente cerca de 80 mil pessoas, mas esse número vai aumentar com a expansão do sistema para outras cidades da Serra de Santana. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Por um futuro ancestral para a AmazôniaResgatar as raízes indígenas, na construção de um projeto para a região, não significa renunciar a produzir, mas apostar na floresta em pé: alimento, farmácia, escola e paisagem. É o oposto da “Economia verde”, que supõe grãos e árvores padronizados, numa “lavoura de clones” “O homem, por seu egoísmo tão pouco clarividente em relação aos seus próprios interesses, por sua inclinação a explorar tudo o que está à sua disposição, em suma, por sua incúria pelo seu porvir e pelo de seus semelhantes, parece trabalhar para o aniquilamento de seus meios de conservação e a destruição de sua própria espécie. […] Dir-se-ia que o homem está destinado a exterminar a si próprio, após tornar o globo inabitável.” -Jean-Baptiste de Lamarck. “A alegria é a prova dos nove/ No Matriarcado de Pindorama” – Oswald de Andrade Monotom, monotom, monotom. A crença de que pode haver equilíbrio em uma monocultura é uma falácia. Onde não há diversidade, não há movimento. E onde não há movimento, não há renovação, nem evolução. A monocultura é monocórdica, repetitiva e tenta impor um passo único e autoritário à natureza, seguindo uma lógica rígida, patriarcal, que sufoca a pluralidade da vida. Ela parece viva porque produz toneladas de grãos quase idênticos, mas, na verdade, impede a potência e bem-viver em sua forma mais ampla. São sementes uniformizadas em laboratório, com pouca ou nenhuma diversidade genética, que silenciam os ciclos da terra e cortam as relações entre diferentes espécies. São essas interações que mantêm o equilíbrio dos ecossistemas. A vida não se mede pelo volume da reprodução, mas pela fluidez da teia de conexões e pela singularidade das trocas. Quando uma única espécie domina, movida por uma lógica de controle e egoísmo, o solo empobrece, os animais desaparecem, as águas secam, os ciclos se rompem. É isso que se pode entender por paralisar a vida: impedir que ela se renove, se transforme, se expresse em sua forma natural. Essa lógica de uniformidade se espalha para além do campo. Ela se infiltra nas cidades, nas redes sociais, nas músicas, nas séries, nas escolas, quando tentam impor uma única forma de ser, de pensar, de viver. É a monocultura das ideias, marcada pela monotonia dos discursos, pelo monopólio das verdades e pela monocracia do saber. A ilusão de uma cultura dominante (sustentada, em muitos grupos, por uma elite autoeleita que se julga dona da verdade, quase sempre composta por homens) é tão perigosa quanto qualquer lavoura de clones. Daí para a ideia de um povo escolhido é um passo. E do povo escolhido para guerras, exclusões e destruições, outro passo ainda menor. É uma fantasia alimentada por uma amnésia biocultural. Um esquecimento que corta os fios da memória ancestral, empobrece o presente e projeta um futuro sem chão, sem raízes e sem sustentação (Toledo, 2015). O ego virou política de Estado. Como se o planeta fosse uma extensão do próprio umbigo. Como se governar fosse acumular, competir, ganhar, explorar. O bem comum cede lugar à vantagem privada. A escuta cede lugar ao comando, à imposição. Patriarcado na essência mais grosseira. E tudo que é outro (floresta, rio, povo, cultura) vira obstáculo a ser removido. Não há nós. Só ele. Monotom. É um raciocínio viciado no individualismo, na vantagem pessoal, no lucro e na competição. Um narcisismo disfarçado, que transforma vaidade em uma obstinação por crescimento contínuo, em produção espelhada em escala, em consumo inconsciente e inconsequente. Um acúmulo doentio que incha bolsos e estômagos no mesmo ritmo em que esvazia o prato da maioria. Um estado mórbido do ego no centro de um mundo cercado de carência, escassez e destruição. Exploração humana, desperdício de recursos e colapso da natureza. Às vezes, é preciso escrever o óbvio: o problema da monocultura é a monocultura. A falta de diversidade desequilibra o sistema inteiro. Eco, eco, eco. Florestas funcionam como um corpo vivo. Cada espécie tem uma função: algumas protegem o solo, outras alimentam os animais, outras espalham sementes ou chamam a chuva. É dessa troca que nasce o equilíbrio. A vida não acontece sozinha: uma planta depende da outra, como quem dança em roda. O nome técnico disso é complementaridade funcional. Quer dizer que onde há diversidade, há cooperação. E onde há cooperação, há força. Mas quando essa diversidade desaparece (por monoculturas, espécies invasoras, venenos, fragmentação, poluição etc), o sistema perde sua harmonia. A floresta se torna frágil, como um corpo que perde seus órgãos aos poucos (Lapola, 2023). A vida perde seu compasso. E tudo começa a desabar. O ponto de não-retorno. Agora, embalado em discursos de solução climática, o agronegócio das monoculturas promete sequestrar milhões de toneladas de moléculas invisíveis do ar. Parece brincadeira, mas o mundo acredita. Faria isso, supostamente, capturando mais do que a própria indústria poluidora subestima emitir. Para tanto, manipula cálculos que permitem que o pagamento seja feito por florestas que já existem, ou por plantações de árvores clonadas em laboratório, voltadas para a produção de papel e celulose, no lugar de restabelecer florestas de verdade. Mesmo roucos, cientistas de saberes diversos, vindos de todos os cantos e línguas, continuam alertando em linda sinfonia: a harmonia climática vai muito além do carbono estocado no solo ou em quaisquer novas plantações de eucalipto. O equilíbrio está na manutenção da floresta tropical viva em toda a sua complexidade. Eco, eco, eco. Eco, eco, ecoA floresta não é um conjunto de árvores da mesma espécie que guarda carbono. A floresta é um ecossistema. Ela é casa de milhares de espécies da flora e da fauna, mas também abriga uma microvida invisível que sustenta tudo: fungos, bactérias, protozoários e pequenos invertebrados que vivem no solo e garantem a fertilidade da terra. É dessa rede subterrânea, silenciosa e pulsante, que a floresta tira seu fôlego mais profundo. Ela faz chover, modula ventos, remove gases tóxicos e mantém o planeta respirando. Como explica o climatologista Antonio Donato Nobre, a Amazônia transpira diariamente até 20 bilhões de toneladas de vapor d’água, um volume suado muito maior que o do próprio rio Amazonas. Esse “rio voador” é possível graças a superpoderes da floresta nativa: (1) o vapor d’água emitido pelas folhas durante a transpiração e a fotossíntese, que é muito maior que a liberação de oxigênio ou o sequestro de carbono; (2) os compostos orgânicos voláteis (VOCS) liberados por árvores biodiversas, que atuam como núcleos de condensação de nuvens. Esses “pós de pirlimpimpim”, como Nobre chama, são condensadores de nuvens e ajudam a formar chuva e resfriam a atmosfera; (3) esse sistema reduz a pressão atmosférica sobre a floresta e suga a umidade do oceano para dentro do continente, num fenômeno conhecido como bomba biótica de umidade. Essa engrenagem invisível que mantém o ciclo hidrológico pulsando sobre a Amazônia e além (Nobre, 2014, 2015, 2016… 2025!). Já as monoculturas são versões empobrecidas da vida. Repetem uma única espécie, sem conversa. Emitindo pouco “pó de pirlimpimpim”, essas plantações quase não promovem a formação de nuvens, não impulsionam a bomba biótica e, assim, enfraquecem os rios voadores, quebrando o ciclo das águas. Resultado: mais seca, mais mudanças climáticas. Com gosto bastante duvidoso, a indústria da silvicultura chama essas monoculturas de árvores de “floresta pura” — que nome sombrio! Mas não passam de simulacros: imagens estáticas vestidas de único verde, que não abrigam, não trocam, não devolvem. Coincidência nenhuma, essas caricaturas de floresta estão sob os domínios do Ministério da Agricultura, não do Meio Ambiente. E, ao contrário do que prometem, tampouco aliviam a pressão sobre as florestas nativas. Muitas vezes, fazem o oposto: intensificam o desmatamento e a degradação. A ciência tem mostrado (e segue mostrando) que monoculturas secam o solo, empobrecem os ecossistemas e não substituem o que é vivo por inteiro. Este mês, o IPAM divulgou um estudo que escancara a gravidade do erro: transformar floresta em monocultura empobrece o solo mais do que queimá-la. Publicado na Science of the Total Environment, o artigo mostra que essas áreas têm três vezes menos carbono do que florestas intactas; e até duas vezes menos que florestas que queimam todos os anos (Naval, 2025). O solo perde vida, fertilidade e capacidade de capturar carbono ao entrar no regime repetitivo das monoculturas. Para entender a escala das monoculturas no Brasil: a área plantada de soja chegou a 47,36 milhões de hectares em 2024/25, quase metade do total de cereais, leguminosas e oleaginosas do país. A área plantada de eucalipto alcançou 7,6 milhões de hectares em 2023, representando 78,1% das florestas plantadas no Brasil. Em comparação, o país tem cerca de 58,2 milhões de hectares de terras aráveis. Esse é o ponto cego de muitos projetos de “economia verde” em larga escala: plantar grãos ou árvores da mesma espécie não é recuperação ambiental. Mas o estudo também aponta caminhos. A agricultura regenerativa pode conter essa perda e reverter o empobrecimento do solo. Eco, eco, eco. Agrofloresta é o futuro. E o futuro é ancestralComo diz Nêgo Bispo: “Por que usam a palavra agroecologia e não usam agricultura quilombola, ou roça indígena, ou agricultura de aldeia, de quebradeira de coco? A academia vive de transformar o saber (dos povos tradicionais) em mercadoria. Fomos nós que inventamos isso. Daí mudam o nome, chamam de agroecologia, e ficam nos vendendo curso de agroecologia!”. E ele está certo. No coração da Amazônia, seria natural imaginar uma formação em Engenharia Florestal que reconhecesse os mestres da floresta. Mas o saber indígena não se deixa capturar por títulos individuais. O saber é aldeia. É coletivo. É bio. Bio porque nasce do chão, da escuta, da prática. Bio porque se compartilha, não se acumula. Bio porque é vida em relação. Mas a universidade exige CPF para reconhecer o saber. Pede diploma para ouvir quem aprendeu na floresta. Quer enquadrar a memória viva em formulário digital. E o que não se adapta, vira invisível. A crítica de Nêgo Bispo escancara essa contradição: o saber ancestral, que sustenta práticas sustentáveis há séculos, é muitas vezes ignorado ou apropriado pela academia. E isso não é um lapso. É o sintoma de um sistema que separa o conhecimento da vida, e transforma tudo em mercadoria. Bill não é bio. Bill não é saber com raiz, saber que pulsa junto com o território. Hoje, a agroecologia é mais que uma técnica. É ciência, prática e movimento. Um corpo coletivo que resiste ao sistema dos ultraprocessados. Que combate a doença dos corpos e dos territórios. Que cultiva comida de verdade e rompe com o ciclo do veneno, da dependência e da mentira embalada a vácuo. E os Sistemas Agroflorestais, os chamados SAFs? Podemos chamá-los de florestas de alimento. De sistemas vivos. De bioarquiteturas do cuidado. Segundo a Rede Brasileira Agroflorestal, os SAFs combinam, de forma intencional, espécies florestais com cultivos agrícolas, com ou sem a presença de animais, em uma mesma área. É o manejo da convivência. O cultivo da cooperação. O desenho de ecossistemas produtivos que oferecem bens e serviços sem esgotar o solo, a água ou a alma da terra. Milênios de manejo: a floresta foi sendo cultivada, não descobertaA floresta que hoje chamamos de Amazônia nunca foi intocada. Foi tocada, sim — com sabedoria, com intenção, com cuidado. Arqueólogos que estudam as ocupações humanas da região mostram que, desde muito antes da invasão europeia, a floresta era pomar, farmácia, escola. Uma floresta de alimentos. “O legado indígena na formação de sistemas agroflorestais é considerado, hoje, como possibilidade para sustentabilidade em atividades agrícolas de pequena escala na Amazônia”, escrevem Mirtle Pearl Shock e Claide de Paula Moraes, professores da UFOPA. Há sítios arqueológicos no Pará que datam de 12 mil anos. Em cada camada de terra, um testemunho de manejo: a Terra Preta de Índio, rica em carbono e fertilidade; os quintais florestais cheios de remédio vivo; os bosques culturais criados a partir de clareiras naturais, transformadas pelas mãos humanas em espaços de abundância e diversidade. Como descrevem Shock e Moraes, essas formações vegetais não nasceram por acaso. Mesmo quando uma árvore cai por força do tempo, há sempre alguém que cuida, que planta, que escolhe o que deixar crescer. A floresta, aqui, é também obra. Esse reconhecimento da floresta como construção histórica, e não relíquia natural, começa a ganhar força também na ciência global.Um artigo publicado neste mês na revista Science, liderado por Carolina Levis e Justino Sarmento Resende, do povo Tukano, afirma: é hora de indigenizar a ciência da conservação. Proteger a Amazônia exige caminhar com os povos que a cultivaram por milênios. Exige reconhecer que a biodiversidade que hoje celebramos foi semeada por mãos humanas. Mãos que conhecem o tempo da floresta. Oeste do Pará, no coração da AmazôniaMil anos antes da invasão, já havia cidade grande em Santarém. Os sítios arqueológicos Aldeia e Porto, escavados onde hoje é o centro antigo, mostram povos que dominavam técnicas sofisticadas de manejo. Produziam alimentos, utensílios, medicinas. No livreto “Uma Santarém mais antiga sob o olhar da arqueologia”, publicado em parceria da UFOPA com o Museu Goeldi, a arqueóloga Anne Rapp Py-Daniel escreve que “os recursos alimentícios eram diversificados, incluindo um grande número de frutas”. Ou seja: havia abundância. E essa abundância não nascia da uniformização, mas da diversidade cuidadosamente manejada. É nesse legado que os sistemas agroflorestais contemporâneos encontram raízes profundas. E essa relação com a biodiversidade não ficou no passado. Está viva. Em Belterra, município vizinho a Santarém, pesquisadores da UFOPA mapearam 48 sistemas agroflorestais mantidos por 17 famílias agricultoras. São 68 espécies diferentes em arranjos consorciados que incluem cumaru, cupuaçu, mandioca, banana, pimenta-de-cheiro. Um ecossistema cultivado. Como escrevem Pauletto et al. (2024), os SAFs são práticas agrícolas biodiversas que aumentam a segurança alimentar, fortalecem a identidade cultural e melhoram as condições de vida rural. Mesmo com pouca assistência técnica, esses arranjos resistem. São herança viva da floresta cultivada por quem conhece o tempo da terra. E se falta poesia nisso tudo, que falem os números: um estudo recente do Instituto Escolhas mostra que recuperar as Áreas de Preservação Permanente (APPs) nos assentamentos da reforma agrária no Pará pode render mais de 15 milhões de toneladas de alimentos, gerar R$ 44,8 bilhões em receita líquida e criar 69 mil empregos em 30 anos. Ou seja: restaurar a floresta não significa abrir mão da produção. Significa produzir melhor. Com biodiversidade, com comida de verdade, com justiça social. Em vez da cerca que exclui, floresta viva que alimenta. Em vez de monocultura de grãos ou árvores clonadas, agrofloresta para a vida. Cultivada com açaí, cupuaçu, andiroba, cumaru, plantas medicinais e memórias que brotam do chão. A ecologia é subversiva, sim. Ela recusa o acúmulo e o egoísmo. E com sabedoria, aposta na força da colaboração, na ciclagem de nutrientes e no impacto mínimo. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Parceria fortalece economia verde e integração transfronteiriça na AmazôniaBrasil61Em reunião realizada nesta terça-feira (1), a estruturação de uma carta de intenções para impulsionar projetos voltados para a região foi confirmada, O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) avançaram na construção de um futuro mais sustentável para a Amazônia. A parceria estratégica, firmada no ano passado, voltou a ser tema de debate em reunião nesta terça-feira (1º). A proposta de acordo objetiva impulsionar a bioeconomia amazônica, por meio do uso sustentável e inovador de recursos biológicos para produção e comercialização, e promover a integração entre os países da região, mediante projetos cooperativos de pesquisa, infraestrutura e atração de investimentos. A principal pauta do encontro foi a assinatura de uma carta de intenções voltada ao desenvolvimento sustentável na Amazônia. O ministro Waldez Góes destacou a importância de aproveitar projetos já existentes no Brasil para fortalecer a cooperação transfronteiriça. "Devemos considerar o que existe em andamento no Brasil, os projetos iniciados e tomá-los como ponto de partida, sempre pensando em integrar as políticas de desenvolvimento dos países fronteiriços ", disse Waldez. Inovação e desenvolvimento sustentável na AmazôniaO Secretário Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial (SDR), Daniel Fortunato, reforçou que a parceria permitirá maior integração entre empresas e universidades na bioeconomia, infraestrutura e conectividade. “Quem sabe a gente não consiga transformar a região amazônica em um ambiente tecnológico, inovador, com bioeconomia e startups. Tenho certeza que o acordo firmado entre as entidades e esse passo que foi dado hoje trarão muitos resultados positivos para o desenvolvimento do país”, avaliou. Na implantação de territórios de bioeconomia, destaca-se a Estratégia Nacional de Bioeconomia e Desenvolvimento Regional Sustentável do MIDR (BioRegio), coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial (SDR). Considerando o compromisso da SDR com o desenvolvimento sustentável da bioeconomia na Amazônia Legal, a OTCA demonstrou interesse em participar do projeto, por meio da captação de recursos nacionais e internacionais e da promoção da cooperação transfronteiriça. “Essa cooperação com a OTCA vai nos permitir ter um diálogo mais avançado com os países fronteiriços, tais como Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia, de modo a viabilizar projetos conjuntos de desenvolvimento baseados na Bioeconomia Amazônica”, comentou o coordenador-geral de Gestão do Território do MIDR, Vitarque Coêlho. A OTCA é uma organização internacional formada por oito países amazônicos: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O papel dela nessa parceria é o apoio institucional e financeiro para a estruturação dos territórios da bioeconomia na faixa de fronteira Os recursos deverão ser investidos na estruturação de ecossistemas de inovação baseados na bioeconomia amazônica. As ações incluem a criação de laboratórios em Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) regionais, além da instalação de incubadoras de startups e centros empresariais. Também está prevista a contratação de consultorias para ajudar no desenvolvimento de projetos transfronteiriços voltados à inovação). Além disso, haverá suporte institucional para a submissão de projetos em busca de financiamento internacional. Fonte: MIDR | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |  CNM: municípios enfrentam dificuldades para cumprir exigências da Política Nacional de Resíduos SólidosBianca MingoteO país precisa de apoio técnico e financeiro para o cumprimento das exigências legais previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010, que prevê exigências como o fechamento dos lixões e o encerramento do seu uso como destinação final de resíduos. A realidade de muitos municípios, segundo avaliação da Confederação Nacional de Municípios (CNM), demonstra um déficit de apoio técnico e financeiro para o cumprimento das exigências legais. O país precisa de apoio técnico e financeiro para o cumprimento das exigências legais previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010, que entre as principais exigências, prevê o fechamento dos lixões e o encerramento do seu uso como destinação final de resíduos. O diagnóstico é da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Para a entidade, a realidade de muitos municípios demonstra um déficit dessas ações para alcançar as metas legais. Na avaliação da CNM, para possibilitar a alteração significativa do cenário no atendimento à legislação sobre lixões é fundamental que os municípios recebam repasses e apoio técnico do governo federal, com vistas a desenvolver ações estruturadas para cumprir os objetivos da PNRS. Em nota, a confederação ainda pontuou que há necessidade de empenhos para fortalecer a gestão municipal por meio de medidas estruturantes, tendo em vista o risco de surgir um novo local irregular de descarte de lixo, com ações individuais ou sem coordenação efetiva. “Ações individualizadas ou descoordenadas visando ao encerramento de um lixão podem ser pouco eficientes, podendo gerar efeito rebote, como o surgimento de um outro lixão em um breve intervalo de tempo”, diz um trecho da nota. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, destaca – na cartilha Encerramento de lixão e aterro controlado: orientações e alertas da Confederação – que é preciso existirem ações integradas para cumprir a lei de resíduos. “No caso dos lixões, é necessário que se crie um programa estratégico de encerramento de lixão de abrangência estadual, preferencialmente, requerendo o envolvimento e a participação conjunta dos representantes dos Municípios (inclusive de associações estaduais de Municípios) e dos governos estaduais, além do setor privado”, expõe. O estado de Sergipe passou a integrar, recentemente, a lista de entes brasileiros que alcançaram a exigência prevista na lei de fechar lixões e encerrar o uso desses locais como destinação final de lixo. Obrigações municipais da PNRSEntre as normas municipais estabelecidas pela PNRS, há um prazo para a implantação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A data estabelecida foi 31/12/2014. Porém, a Lei n°14.026 de julho de 2020 alterou a previsão e trouxe novos critérios para atingir a meta: • 31 de dezembro de 2020, para municípios que não possuam plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, e mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira; • 2 de agosto de 2021, para capitais de estados e municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais; • 2 de agosto de 2022, para municípios com população superior a 100 mil habitantes, bem como para municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja localizada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes; • 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes; • 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Com informações da CNM, Bianca Mingote. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Como a crise hídrica sufoca o BrasilSecas severas no país acarretam enormes prejuízos no setor elétrico, saúde pública, navegação, abastecimento de água, e produção de alimentos. Mas o poder público está paralisado. Como fornecer capacidade técnica e financeira para as cidades e o campo enfrentá-las? 2023 foi o ano mais quente já registrado em 174 anos de coleta de dados da Organização Meteorológica Mundial (WMO, na sigla em inglês). A temperatura média global da superfície ficou 1,45 °C acima dos níveis pré-industriais. Esse aquecimento leva a eventos climáticos extremos, como ondas de calor, inundações, tempestades e secas, mudanças que causam impactos na biodiversidade, com a perda de hábitats e espécies por causa das mudanças nos ecossistemas e da acidificação dos oceanos, o que pode alterar a cadeia alimentar marinha e afetar a pesca. Entretanto, dizer que a temperatura do planeta corre o risco de subir 2 °C pode não significar nada para as pessoas em geral. É preciso explicar o que isso representa, qual é o impacto na vida delas e, dessa forma, buscar engajar o conjunto da sociedade em ações e na cobrança de medidas por parte de governos. No Brasil, o impacto da seca severa pode ser sentido em diversos setores e afeta diretamente a vida das pessoas. Já é possível observar consequências no setor elétrico, na navegação, no abastecimento de água, na saúde pública e na produção de alimentos. No caso da energia elétrica, com menos água nos reservatórios, o sistema gasta mais na geração, o que leva a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a acionar a bandeira vermelha do sistema tarifário, onerando ainda mais o consumidor. Na navegação, a seca reduz os níveis dos rios, o que pode dificultar a passagem de embarcações, especialmente em áreas onde o transporte fluvial é crucial para a circulação de alimentos, remédios e pessoas. Na Amazônia, a seca está isolando algumas comunidades ribeirinhas. Com isso, algumas cidades sofrem com a escassez de alimentos e com a falta de outros suprimentos necessários para a sobrevivência, provocando um impacto econômico especialmente para os mais pobres. O aumento das temperaturas e da umidade pode afetar a saúde, causando problemas como desidratação e doenças respiratórias, e criando condições ideais para a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, que são os principais transmissores da dengue. Isso resulta em aumento dos casos da doença em várias regiões do mundo. Além disso, podemos passar a conviver com a expansão de áreas em que proliferam os mosquitos Anopheles, que transmitem a malária. Já as secas prolongadas e as inundações podem prejudicar o desenvolvimento das plantas, dificultando o enchimento dos grãos e o crescimento dos frutos, e causando redução na produção agrícola e na qualidade dos alimentos. Algumas áreas que antes eram adequadas para certas culturas podem se tornar inviáveis em razão das mudanças climáticas, forçando os agricultores a mudar suas práticas de cultivo e a buscar novas áreas para o plantio. O aumento das temperaturas e a redução da disponibilidade de água e pastagens podem afetar negativamente a saúde e a produtividade dos animais, levando a uma menor produção de carne, leite e outros produtos de origem animal. A combinação desses fatores pode acarretar uma maior insegurança alimentar, afetando especialmente as populações vulneráveis que dependem da agricultura para sua subsistência. Um relatório da Comissão Global sobre a Economia da Água (GCEW, na sigla em inglês) mostra que mais da metade da produção mundial de alimentos pode ser comprometida até 2050 caso não sejam tomadas medidas urgentes contra a crise global de água. Segundo o relatório, cerca de 3 bilhões de pessoas vivem atualmente em áreas onde o armazenamento de água está em declínio. Certamente os mais afetados pela crise hídrica serão as populações mais pobres e em processo de vulnerabilização social e econômica; porém, o relatório adverte que nenhuma comunidade será poupada. Ainda com relação à água, em 2022 o relator especial da ONU sobre os Direitos Humanos à Água Potável e ao Esgotamento Sanitário, Pedro Arrojo Agudo, produziu três relatórios sobre mudanças climáticas e os direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário. Em um deles, ele afirma que é “amplamente compreendido e reconhecido que as mudanças climáticas surgem como consequência da emissão massiva de gases de efeito estufa e, portanto, ninguém duvida que as estratégias de mitigação devem ser lideradas pela transição energética. No entanto, raramente se explica que os principais impactos socioeconômicos são gerados em torno da água. Portanto, as estratégias de adaptação devem ser baseadas em uma transição hidrológica que fortaleça a resiliência ambiental e social diante das mudanças climáticas. Por um lado, é urgente recuperar a saúde das zonas úmidas e dos aquíferos subterrâneos – verdadeiros pulmões naturais do ciclo da água – que podem e devem ser reservas estratégicas para secas cada vez mais severas”. Direitos humanos à água e ao esgotamento sanitárioO conteúdo normativo dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário engloba cinco pilares. Disponibilidade significa que o abastecimento de água para cada pessoa deve ser suficiente e contínuo para uso pessoal e doméstico. Esses usos normalmente incluem bebida, esgotamento sanitário, lavagem de roupas, preparação de alimentos e higiene pessoal e doméstica. Qualidade significa que a água necessária para cada uso pessoal ou doméstico deve ser segura e livre de contaminantes que ameacem a saúde. A água deve ter cor, odor e sabor aceitáveis para cada uso pessoal ou doméstico. Acessibilidade física significa que as instalações e os serviços de água devem ser acessíveis a todos, sem discriminação. A acessibilidade tem quatro dimensões sobrepostas: acessibilidade física, acessibilidade econômica, não discriminação e acessibilidade à informação. Acessibilidade econômica significa que o acesso a instalações e serviços de esgotamento sanitário, incluindo construção, operação (esvaziamento) e manutenção, deve estar disponível a um custo acessível para todas as pessoas, sem limitar sua capacidade de acessar outros direitos humanos. Aceitabilidade significa que os serviços de água e esgotamento sanitário devem ser culturalmente aceitáveis. Isso inclui que eles devem ser seguros e garantir privacidade e dignidade. As mudanças climáticas impactam o acesso à água de diversas formas. Com relação à disponibilidade, esta será ameaçada pelo aumento da escassez e pela competição por recursos; a qualidade será comprometida na medida em que há diminuição por causa da superexploração das águas subterrâneas e do aumento da concentração de poluentes. A acessibilidade dos serviços de água e esgotamento sanitário será ameaçada por danos generalizados e infraestrutura em razão das inundações e eventos extremos. A acessibilidade econômica dos serviços de água pode diminuir à medida que o aumento da disputa e concorrência entre os usos da água leva ao aumento dos custos. Sob crescente estresse, é provável que a aceitabilidade cultural dos serviços de água e esgotamento sanitário não seja priorizada e, em alguns casos, seja ignorada. Segundo Pedro Arrojo, prevê-se que os períodos de seca, durante os quais a precipitação é muito reduzida e as fontes de água se esgotam, se tornem mais longos e frequentes em certas regiões do mundo que já enfrentam condições gerais de seca e estações secas. Em 2024, o Brasil enfrentou a seca mais intensa e abrangente desde 1950, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Entre 2023 e 2024 foram mais de 5 milhões de quilômetros quadrados afetados, o que representa mais da metade do território nacional. Em 2024, 3.978 municípios estiveram em estado de seca com diferentes intensidades, desde fraca até extrema. Isso significa que mais de 70% dos municípios do país estavam em condição de seca, e, destes, 201 encontravam-se em situação de seca extrema. Ações do governo federalEm setembro, o governo federal anunciou várias ações para combater os impactos da seca e das queimadas por meio da edição de medidas provisórias que liberaram crédito extraordinário de R$ 514 milhões destinado a diversos órgãos. Assim, Ibama e ICMBio puderam adquirir materiais e equipamentos e contratar novos serviços especializados de combate ao fogo, como brigadistas, locação de viaturas e aeronaves; a Polícia Federal pôde custear despesas de equipe em diligências, investigação, análise de imagens de satélite e perícias que ajudam a identificar a origem dos incêndios; e o Fundo Nacional de Segurança Pública recebeu recursos para mobilizar 180 novos profissionais da Força Nacional durante cem dias para atuar no combate a incêndios. O governo ainda prorrogou as operações de crédito rural para agricultores afetados pela seca e criou uma Força Nacional de Emergência para lidar com questões relacionadas à estiagem. Na área de Assistência Social, o governo está fornecendo cestas básicas e alimentos para famílias afetadas pela emergência climática, especialmente na região Norte. Em que pesem essas importantes iniciativas, é preciso destacar que se trata de medidas emergenciais que não enfrentam de forma estrutural o problema da seca, e o tempo tem nos ensinado que “lutar contra a seca” com medidas emergenciais não resolve o desafio. A crise urbanaE nossas cidades? Estão preparadas para enfrentar os desafios impostos pela emergência climática? Pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), no primeiro semestre de 2024, revela que não. Dos 3.590 municípios que responderam à pesquisa, 810 (22,6%) afirmaram estar preparados para enfrentar o aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos, como secas, inundações ou outros desastres naturais, e 2.443 (68,1%) responderam que não. Além disso, 215 (6%) responderam desconhecer as previsões de eventos climáticos extremos que poderão afetar seu município e 122 (3,4%) não responderam a essa questão. Os municípios brasileiros precisam estar preparados, com capacidade técnica e financeira, para elaborar planos de contingência e mitigação para lidar com eventos extremos. É necessária uma grande cruzada que envolva o poder público municipal, os governos federal e estadual, entidades municipalistas, agências de fomento nacionais e internacionais, universidades, Ministério Público, Defensoria Pública e sociedade civil. No âmbito nacional, foram várias as iniciativas para o enfrentamento da emergência climática, como as já citadas; porém, além de “apagar incêndios” e construir grandes obras, é preciso combinar ações estruturais com ações estruturantes, como dar centralidade às políticas de combate aos desmatamentos e à invasão de terras indígenas por madeireiros, garimpeiros, caçadores e pescadores ilegais – enfrentar a violência contra os povos das águas, dos campos e das florestas que continuam sendo mortos por lutar contra invasões de suas terras. É necessário também combater as desigualdades, garantindo ao conjunto da população acesso a políticas inclusivas de crescimento econômico e conhecimento científico e tecnológico; e fortalecer e valorizar os espaços de participação e controle social, eliminando a assimetria do conhecimento e envolvendo a população em todas as etapas de iniciativas propostas, sejam obras, demarcação de terras etc., desde a concepção de projetos, a elaboração, construção e implementação, de forma a respeitar as origens, as culturas e os laços familiares e de amizade das comunidades dos territórios envolvidos. Para enfrentar e possibilitar a convivência com as secas é necessário que os investimentos sejam planejados com foco na sustentabilidade ambiental e social, garantindo-se o acesso pleno à água em quantidade e qualidade adequadas. Para isso é fundamental, por exemplo, desengavetar o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) para evitar a insegurança hídrica e promover a saúde das populações e, dessa forma, assegurar a segurança alimentar. É preciso reforçar e promover segurança, apoio e fortalecimento das comunidades rurais e quilombolas, estimular a agricultura familiar, incluir mulheres e jovens nos processos de desenvolvimento, aplicar tecnologias e metodologias adaptadas aos vários ecossistemas brasileiros, conservar e regenerar os recursos naturais e buscar meios de financiamento adequados. Nos últimos acordos internacionais, os países se comprometeram a agir de forma a limitar o aquecimento global, e os países ricos assumiram compromissos financeiros para ajudar os países em desenvolvimento. Porém, isso precisa ser colocado em prática de fato. Esses compromissos estão expressos no Acordo de Paris (2015), na COP26 (2021) e na COP29 (2024), mas não vêm sendo cumpridos. Em 2025, o Brasil sediará a COP30, em Belém. Será uma grande oportunidade de o país mostrar sua força e capacidade de avançar no enfrentamento da emergência climática e cobrar dos países ricos sua cota de contribuição e responsabilidade conforme os acordos anteriores. A existência da humanidade depende da vida do planeta Terra. Com certeza ele sobreviverá, mas, caso não haja mudanças radicais no modo de produção e consumo, a humanidade não resistirá. Como disse Ailton Krenak, “a Terra não pertence a nós; nós pertencemos à Terra”. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Clima: à espera da rebeldia necessáriaOs estudos e gráficos que sugerem a aproximação do colapso. Os sinais de que as condições de vida irão se deteriorar ainda mais. O fracasso das conferências, diante do poder das corporações. Sacudir o tabuleiro, saída indispensável. Mas como? O que segue é uma versão abreviada da conclusão de um livro sobre o agronegócio, esse inimigo público número 1 da sociedade brasileira, que pretendo publicar em 2025. À medida que se aproxima do fim de seu primeiro quinquênio, o presente decênio inicia as sociedades contemporâneas nas experiências traumáticas de um colapso socioambiental. Um colapso se desenha quando os impactos causados por desastres climáticos em série, perdas agrícolas, poluição generalizada, pandemias, desigualdades e violência golpeiam tão frequentemente as sociedades, que estas se tornam progressivamente incapazes de assegurar um mínimo de segurança física, alimentar, hídrica e sanitária às suas populações. Colapso não é um evento com data marcada para acontecer, é o processo em curso.i E dada a aceleração desse processo, pode-se predizer com segurança uma piora ainda maior nas condições de vida dos humanos e de inúmeras outras espécies nos seis anos que nos separam de 2030. Os tratados firmados em 1992 no Rio de Janeiro contra a desestabilização do clima, a perda da biodiversidade e a desertificação, assim como os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definidos em 2015, chegaram a embalar os sonhos de muitos. Hoje sua credibilidade é zero. O medo do futuro toma de assalto as sociedades e esse sentimento tem sido bem explorado nas eleições dos últimos dez anos pelos que, nos mais diversos países, negam as evidências científicas, agitam bodes expiatórios e prometem um retorno salvífico ao passado. Ocorre que é impossível voltar ao passado e, de qualquer modo, também nele não faltavam advertências aos governantes e governados sobre o que o futuro lhes reservava, mantida a mesma trajetória. Desde os anos 1960, multiplicam-se os alertas sobre as consequências terríveis que os agrotóxicos e a destruição das florestas teriam para a vida no planeta. E desde meados dos anos 1970 forma-se o consenso cientifico segundo o qual o aquecimento registrado desde os anos 1930 não podia mais ser imputado apenas à variabilidade natural do sistema climático. Trabalhos e depoimentos fundamentais entre 1975 e 1988, ano da criação do IPCC, demonstravam esse consenso e projetavam um aquecimento brutal para o século XXI. Eis o texto do Primeiro Relatório de Avaliação do IPCC, publicado em 1990:ii
O “Cenário A” (continuidade de emissões crescentes de gases de efeito estufa – GEE) confirmou-se e a projeção do IPCC para esse cenário estava obviamente correta. A Figura 1 mostra que nos três decênios anteriores a 1990 (1961-1990), a taxa de aquecimento tinha sido de 0,14 oC por década. Figura 1 – Anomalias de temperatura na média anual global (terrestre e marítima combinadas) entre janeiro de 1961 e dezembro de 1990, com aquecimentos registrados em relação à média do período de base 1901-2000 e com uma taxa de aquecimento de 0,14 oC por década  Fonte: NOAA, Climate at a Glance Global Time Series Entre 1995, data do segundo Relatório do IPCC, e 2023, a velocidade do aquecimento médio global aumentou mais de 50%, evoluindo à taxa de 0,22 oC por década, como mostra a Figura 2. Figura 2 – Anomalias de temperatura na média anual global (terrestre e marítima combinadas) entre janeiro de 1995 e dezembro de 2023, com aquecimentos registrados em relação à média do período de base 1901-2000 e com uma taxa de aquecimento de 0,22 oC por década  Fonte: NOAA, Climate at a Glance Global Time Series Desde então, ao longo do segundo e terceiro decênios do século, todos os parâmetros quantificados pela ciência confirmam a aceleração do aquecimento prevista pelo IPCC. A Figura 3 mostra que o aquecimento médio global está ocorrendo nos últimos 13 anos à taxa vertiginosa de 0,33 oC por década. Figura 3 – Anomalias de temperatura na média anual global (terrestre e marítima combinadas) entre janeiro de 1995 e dezembro de 2023, com aquecimentos registrados em relação à média do período de base 1901-2000 e com uma taxa de aquecimento de 0,33 oC por década  Fonte: NOAA, Climate at a Glance Global Time Series Isso significa que, mantida essa taxa, a temperatura média do planeta aumentará 1oC a cada três decênios!! É verdade que são necessárias observações de ao menos três decênios para se poder afirmar com certeza a emergência de uma nova tendência no comportamento do clima. Mas nada permite esperar doravante uma desaceleração do aquecimento, haja vista: (a) o aumento da queima de combustíveis fósseis; (b) o aumento dos incêndios florestais, do desmatamento e da degradação dos solos; (c) a liberação de carbono pelo derretimento do permafrost e, portanto, (d) um crescente desequilíbrio energético do planeta, hoje já colossal (>1 Watt por m2). A percepção de que as sociedades humanas estão confrontadas a um processo de colapso começou a se generalizar no segundo decênio do século. Em 2012, Denis Meadows, coautor de “Limites do Crescimento” (1972), declarava à imprensa: “Vejo o colapso já acontecendo”.iii E em 2013, um documento intitulado “Consenso Científico sobre a Manutenção dos Sistemas que Sustentam a Vida Humana no Século XXI”, assinado por 522 cientistas, afirmava:iv
Em 2024, por iniciativa de William Ripple, um grupo de renomados cientistas reafirma:v
O ano de 2023 foi o mais quente dos últimos 120 mil anos e 2024 superou o aquecimento constatado em 2023. Vivemos em 2024 o primeiro dos últimos 100 mil anos em que a temperatura média superficial do planeta foi 1,5 oC mais quente do que a do período pré-industrial (1850-1900). A menos de mudanças sociais radicais, a trajetória do século XXI prevista pelo IPCC em 1990 está agora traçada. A taxa de aquecimento planetário desde 1995 é de no mínimo 0,22 oC por década, implicando um aquecimento de 2oC até 2050. É impossível dizer o grau de dano que esse aquecimento causará à vida do planeta porque ele nunca ocorreu no Quaternário (os últimos 2,58 milhões de anos). Duas certezas, contudo, se impõem: (1) um aquecimento de 2oC é incompatível com sociedades organizadas e (2) esse aquecimento é apenas uma etapa em direção a aquecimentos ainda mais catastróficos na segunda metade do século, mantida a inércia atual das sociedades. Muitos outros colapsos socioambientais já aconteceram no passado. Mas este cujo início estamos presenciando e sofrendo é absolutamente singular em ao menos três sentidos. Em primeiro lugar, ele é um colapso multifatorial, envolvendo ao menos onze fatores agindo em sinergia: (1) desestabilização do sistema climático, com a ação crescente de alças de retroalimentação do aquecimento; (2) degelo terrestre, com elevação do nível do mar a taxas recentes próximas de 5 mm por ano, provocando destruição da infraestrutura urbana, salinização dos deltas e impactos imensos nos ecossistemas costeiros; (3) aceleração da sexta extinção em massa de espécies: (a) cerca de 40% das espécies avaliadas de plantas e fungos estão em risco de extinção, sendo 46% de espécies de plantas com flores. Além disso, “77% das espécies de plantas não descritas provavelmente estão ameaçadas de extinção, e quanto mais recentemente uma espécie foi descrita, maior a probabilidade de que esteja ameaçada”;vi (b) “mais de 500.000 espécies [terrestres], não têm habitat suficiente para a sobrevivência a longo prazo e estão condenadas à extinção, muitas delas em poucas décadas, a menos que seus habitats sejam restaurados”.vii (4) desequilíbrios imensos nos ciclos hidrológicos, com secas, incêndios, chuvas torrenciais, inundações, tempestades tropicais e ciclones tropicais e subtropicais cada vez mais destrutivos; (5) 15 milhões de km2 dos solos planetários já degradados, com expansão da degradação (em direção à desertificação) à taxa de 1 milhão de km2 por ano; (6) intoxicação sistêmica dos organismos pela poluição químico-industrial, sobretudo pelos agrotóxicos e, em geral, pelo sistema “alimentar” globalizado; (7) uma maior capacidade das corporações (estatais e privadas) de moldar os Estados nacionais à sua imagem e semelhança, redundando em bloqueio da governança global; (8) um aumento sem precedentes das desigualdades com correlativa regressão das democracias; (9) proliferação de guerras e conflitos armados dentro e fora das fronteiras nacionais, em grande parte em decorrência dos oito fatores acima evocados; (10) um aumento calamitoso de migrações forçadas, intra e intercontinentais, em decorrência dos nove fatores acima elencados, intensificando mais conflitos e mais xenofobia, e, enfim, (11) a emergência da tecnosfera dos algoritmos pelas Big Techs, terrivelmente vorazes de energia, com potencial para ameaçar a capacidade humana de se autogovernar. Em segundo lugar, o colapso atual se distingue dos anteriores por sua escala planetária, pois ele está acontecendo simultaneamente em praticamente todas as latitudes do planeta. O colapso atual não é nem local, nem seletivo. Ele está golpeando mais imediata e duramente os países pobres e os sempre mais numerosos pobres dos países ricos, mas ninguém está a salvo. Absolutamente ninguém. Há, enfim, um terceiro fator igualmente singular do colapso socioambiental em curso: as sociedades hegemônicas contemporâneas são as únicas em todo o arco da história humana que há décadas preveem seu próprio colapso, possuem ciência para conhecer suas causas, têm tecnologia suficiente para evitá-lo, detêm memória e reflexão histórica para aprender com os erros passados e mudar de trajetória, mas, ao menos até agora, preferem aceitá-lo passivamente como se seu destino já estivesse escrito. Fica, assim, a pergunta inevitável: é ainda possível reverter esse quadro? É possível a paz entre os homens e com a natureza? Outro mundo é ainda possível? Muitos de nós, criaturas tardias e resignadas do capitalismo globalizado, parecem ceder ao desespero ou ao culto do dinheiro e do individualismo. Mas os rebeldes, os que, não obstante tudo, reafirmam a visão e a possibilidade de outro mundo, não deram ainda sua última palavra. Já em 1968, René Dubos (1901-1982) escreveu em seu belo livro, Um animal tão humano (So human an animal):
Ressoava aqui a vitalidade desse ano admirável que foi 1968 e é claro que, hoje, as forças vivas da sociedade apenas resistem à ofensiva do negacionismo, do fascismo e do militarismo. Mas quando alguém como Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, proclama que “é hora de mudar para uma mentalidade de guerra” (It is time to shift to a wartime mindset),viii impõe-se mais que nunca, a todos nós, denunciar a demência dos que veem a guerra como um caminho para a paz e afirmar a rebeldia civil contra essa matriz civilizacional belicista, genocida, ecocida e suicida. Superar essa matriz supõe recusar a arrogância e a estupidez dos que negam a agonia de nossa biosfera. Supõe também reconhecer os limites de nossa ciência e aprender com o saber e a resiliência dos “periféricos” urbanos, dos indígenas, quilombolas e dos trabalhadores de uma agricultura local e saudável. Cabe-nos, em suma, participar de uma grande aliança com os que recusam o abismo, para derrotar na arena política o agronegócio brasileiro e global. Como reafirma a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), na reunião do G20 em novembro de 2024: “A Resposta Somos Nós”. Sim, os que não perderam a conexão com a Terra são a resposta à indagação de Rachel Carson, feita há mais de 60 anos: “A questão é se alguma civilização pode travar uma guerra implacável contra a vida sem se destruir e sem perder o direito de se chamar civilizada”. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

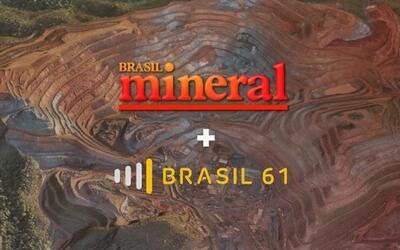



Comentários
Postar um comentário