SOCIEDADE
A A | Os novos profetas da distopiaMusk, Bezos, Thiel e outros bilionários, já não são apenas habitués de Trump. Tornaram-se formuladores das ideias mais brutais de supremacismo e apartheid interplanetário. Vale conhecer o ambiente cultural que gerou tal protagonismo Por Evgeny Morozov, no Nuso | Tradução: Rôney Rodrigues Pensemos nas heresias de Balaji Srinivasan e Peter Thiel, que, ao celebrarem o “Estado em rede” [1] e as cidades flutuantes no mar (seasteading) [2], conceberam uma doutrina de fuga para os aristocratas digitais. Enquanto Srinivasan imagina feudos de blockchain com cidadania sob demanda e forças policiais no modelo pay-per-view [3], Thiel almeja plataformas oceânicas onde os ricos possam flutuar além do alcance dos Estados, enquanto suas fantasias libertárias balançam como iates de luxo em águas internacionais [4]. Em outros âmbitos, a overdose solucionista do Vale do Silício inflou uma bolha de ideias que rivaliza com as financeiras: um mercado frívolo onde a cotização das grandes narrativas sobe mais rápido que as stock options.Assim, Sam Altman esboça despreocupadamente planos de ação planetários para a (não) regulação da inteligência artificial [5], e até para garantir o bem-estar da IA (“capitalismo para todos!” [6]), enquanto os criptoacólitos (Marc Andreessen, David Sacks) [7], os aspirantes a colonizadores celestiais (Elon Musk, Jeff Bezos) [8] e os revivalistas nucleares (Bill Gates, Bezos, Altman) oferecem suas próprias soluções ambiciosas e empolgantes para problemas de origem aparentemente desconhecida [9]. (Quem está consumindo toda essa energia que de repente precisamos com tanta urgência? Um verdadeiro mistério, sem dúvida). Mas temas mais mundanos, da política externa à defesa, também são uma preocupação crescente para eles. Eric Schmidt – um homem cuja personalidade poderia ser confundida com um documento em branco do Google Docs – não só escreveu dois livros com Henry Kissinger, como também colabora regularmente com a Foreign Affairs e outras fábricas similares de dogmas e catastrofismo. E está em busca de temas importantes e substanciais, daqueles que exigem assentimentos solenes nos almoços dos think tanks. “A Ucrânia está perdendo a guerra contra os drones”, proclama um artigo seu de janeiro de 2024 [10]. Seria este – pura coincidência, certamente – o mesmo Eric Schmidt que, poucos meses antes, lançou uma empresa de drones? Agora que as elites tecnológicas se juntaram ao banquete, a especulação sobre o futuro da guerra, que antes era domínio exclusivo de “intelectuais da defesa” que murmuravam nos corredores da Corporação RAND [11], tornou-se um entretenimento em horário nobre. Alex Karp, da Palantir, e Palmer Luckey, da Anduril – com fortunas combinadas que ultrapassam US$ 11 bilhões – fingem ser Davi rudimentares lutando contra os Golias perdulários do Pentágono. Inevitavelmente, Elon Musk, o Zelig do tecnocapitalismo, também tem opiniões firmes sobre o tema: nas guerras do futuro, que priorizam a destruição de infraestrutura – opinou em recente aparição em West Point –, “qualquer sistema de comunicação terrestre, como cabos de fibra óptica e torres de telefonia móvel, será destruído”[12]. Que coincidência que haja alguém que já comanda uma empresa de internet satelital para nos salvar! Os “intelectuais específicos” de Michel Foucault, que ganhavam autoridade graças a seu domínio técnico especializado, parecem anacrônicos ao lado de alguém como Palmer Luckey, o menino-prodígio da realidade virtual reconvertido em contratado da Defesa. Depois de trocar o paletó de tweed por chinelos, bermuda cargo e uma camisa havaiana, ele se gaba em entrevistas, proclamando-se “um propagandista” disposto a “deturpar a verdade” [13]. Neste novo panteão, o sóbrio analista da era da Guerra Fria cede lugar a um novo arquétipo: espetacularmente rico, viciado em estrelato e ideologicamente descarado. Desqualificar esses fundadores de empresas e executivos como meros showmen – mais “oferta pública” que “intelectuais públicos” – seria um erro. Para começar, fabricam ideias com a eficiência de uma linha de montagem: seus posts em blogs, podcasts e Substack avançam com a sutileza de um trem de carga. E suas “polêmicas opiniões”, apesar da embalagem vulgar, costumam basear-se em diversas tradições filosóficas. Portanto, o que parece junk food intelectual – nuggets ultraprocessados de pensamento fritos em capital de risco – muitas vezes esconde ingredientes saudáveis vindos de uma despensa gourmet bastante sofisticada. Não surpreende que o bilionário bibliófilo seja o novo fetiche do Vale do Silício, e que a estante de livros tenha suplantado o iate como principal barômetro de status [14]. Uma estante repleta de hits estranhos e improváveis: Albert O. Hirschman certamente se surpreenderia ao ver a poderosa análise de seu livro Exit, Voice and Loyalty sendo usada para construir Estados em rede, cidades privadas e colônias flutuantes [15]. Os devaneios de Thiel com Leo Strauss e René Girard, tão comentados, constituem apenas um ramo desta árvore genealógica filosófica. Outro ramo, mais robusto, corresponde a Karp, cuja tese doutoral sobre Adorno e Talcott Parsons funciona agora como base intelectual para o império de vigilância da Palantir. Suas comunicações com investidores vêm adornadas com citações eruditas; recentemente Samuel Huntington fez sua aparição nelas. No entanto, de alguma forma, a “Realpolitik para otimistas” de Karp parece decididamente antiadorniana. “A capacidade dos EUA de organizar a violência de maneira superior”, disse ele à Fox Business em março, “é a única razão pela qual o mundo melhorou nos últimos (…) 70 a 80 anos” [16]. A Escola de Frankfurt vai para oNasdaq, fazendo uma parada na CIA: onde Adorno e Horkheimer viram que a racionalidade do Iluminismo ocultava violência, Karp vê que a violência organizada revela os benefícios globais da hegemonia americana e uma oportunidade lucrativa de obter ganhos para ajudar a melhorar ainda mais sua organização (desta vez, com algoritmos, drones e IA!). A retórica militante de Karp expõe a impaciência do Vale do Silício com o pensamento divorciado da ação. Karl Marx certamente brindaria por sua guinada em direção à práxis: em vez de apenas “discutir o mundo”, eles têm a vontade, os meios e agora, aparentemente, “culhões” para mudá-lo [17]. A volta de Trump lhes concedeu canais diretos para a máquina federal: agora Andreessen brinca de coach de contratações, Thiel posiciona seus subordinados no governo e os aliados de Musk agem à vontade no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, em inglês) [18]. Sua estratégia? A mesma que demoliu “indústrias dinossauros”: perturbar primeiro, eliminar depois. Os vocabulários taxonômicos em que confiamos – com suas categorias impecáveis de “elites”, “oligarcas”, “intelectuais públicos” – mostram-se inadequados diante desta nova espécie. Os reis filósofos do Vale do Silício não são meros patrocinadores de outrora que financiavam think tanks ou organizações sem fins lucrativos, nem são plutocratas acidentais que rabiscam manifestos entre a compra de um iate e outro. Eles projetaram um híbrido mais agressivo: carteiras de investimento que funcionam como argumentos filosóficos, posições de mercado que operacionalizam convicções. E enquanto os bilionários da era industrial construíam fundações para imortalizar suas visões de mundo, esses personagens erguem fundos de investimento que também funcionam como fortalezas ideológicas. É a evolução hegeliana do capitalismo (tese) para o filantrocapitalismo (antítese) e para a guerra cultural como negócio (síntese). Consideremos o campo de batalha do investimento ético, esse confessionário corporativo com a marca ESG (critérios ambientais, sociais e de governança, em português ASG), onde as duvidosas tentativas de Wall Street de medir virtude como um relatório trimestral de lucros tornaram-se um detonador da guerra cultural. Para os não iniciados, os critérios ESG representam o reconhecimento tardio por parte do mundo financeiro de que talvez poluir rios, explorar mão-de-obra e nomear conselhos diretores compostos exclusivamente por companheiros de golfe poderia eventualmente afetar os resultados. As empresas recebem pontuações ESG que supostamente medem seu compromisso ambiental, responsabilidade social e práticas de governança: uma espécie de rating de crédito moral para corporações ansiosas por demonstrar que evoluíram além de explorar a céu aberto tanto a natureza quanto a dignidade humana. O peculiar – quase perversamente fascinante – é como as elites do Vale do Silício desdobraram sua artilharia neste campo de batalha, aparentemente tão distante de seus reinos digitais. O drama, que se desenvolveu em grande parte nos últimos anos, avançou como uma inevitabilidade mecânica: o desprezo de Musk (“uma fraude”) [19], a denúncia de Chamath Palihapitiya (“um completo golpe”) [20], os rituais fúnebres preparados por Andreessen (“ideia zumbi”) [21]. Mas esses homens transcendem a mera opinião. Quando a práxis chama, o Vale do Silício responde com investimento, não com mera filantropia. Pouco depois de comparar os critérios ESG com o comunismo chinês e rotulá-los de “cartel ideológico” [22], Thiel financiou a Strive Asset Management, um fundo de investimento anti-ESG. (Na época era dirigido por Vivek Ramaswamy, antigo subordinado de Musk no DOGE que baseou toda sua campanha presidencial em um único tema: atacar o “capitalismo woke” [23]).Andreessen, após apoiar um fundo de investimento pró-MAGA chamado New Founding, também ajudou a fundar a 1789 Capital, outro bastião anti-ESG hoje sustentado por Don Trump Jr. Sua genialidade? Transformar posicionamentos intelectuais em arbitragem de mercado, enquanto controlam (e muitas vezes possuem) megafones digitais para remodelar a própria realidade contra a qual apostam seus investimentos. Será que a marca intelectual do Vale do Silício cavou sulcos mais profundos do que imaginávamos? Enquanto figuras como Andreessen fazem cosplay de intrépidos “Little Tech” [24], e se eles forem algo maior do que esta pantomima sugere? Uma hipótese paira sobre nós, espinhosa e inquietante: e se nossas elites tecnológicas multitarefa são as mesmas forças – astutas, poderosas, às vezes delirantes – que impulsionam a “transformação estrutural” da esfera pública que Jürgen Habermas diagnosticou em seus primeiros escritos? O jovem Habermas – antes que a teoria dos sistemas inflasse sua prosa e nuances diluíssem sua fúria – identificou o vilão com clareza meridiana: o declínio do debate crítico e aberto devia-se à influência corruptora do poder concentrado. Nunca palavras mais verdadeiras foram pronunciadas. E, no entanto… Ao atualizar sua análise de 1962 em 2023, Habermas, o acadêmico patrício, optou por fazer alarde sobre temas como “direcionamento algorítmico”, uma preocupação curiosa semelhante a ajustar molduras de fotos enquanto a casa afunda num buraco. Hoje fica cada vez mais evidente que são os oligarcas tecnológicos – e não suas plataformas controladas por algoritmos – que representam o maior perigo. Seu arsenal combina três ferramentas letais: gravidade plutocrática (fortunas tão enormes que distorcem a física básica da realidade), autoridade oracular (suas visões tecnológicas tratadas como profecias inevitáveis) e soberania de plataformas (a propriedade das interseções digitais onde se desenvolve a conversa da sociedade). A tomada do Twitter (agora X) por Musk, os investimentos estratégicos de Andreessen no Substack, o cortejo de Peter Thiel no Rumble, o YouTube conservador: colonizaram tanto o meio quanto a mensagem, o sistema e o mundo vital. Precisamos atualizar nossas taxonomias para dar conta dessa nova espécie de oligarcas intelectuais. Se o intelectual público de ontem se assemelhava a um meticuloso arqueólogo que escavava artefatos culturais com método para exibi-los em revistas literárias eruditas, o modelo atual é o especialista em demolições que planta explosivos ideológicos através de estruturas sociais inteiras e os detona a partir da distância segura proporcionada por suas contas offshore. Eles não escrevem sobre o futuro; eles o instalam, testando teorias em populações inconscientes no maior experimento não regulado da história. O que os distingue das elites abastadas do passado não é a avareza, mas a verborragia: uma produção torrencial que exauriria até mesmo Balzac. Enquanto os senhores da indústria financiavam think tanks para branquear interesses transformando-os em policy papers, nossos intelectuais oligarcas dispensaram o intermediário. Esqueçam os algoritmos: os intelectuais oligarcas dirigem a própria conversa, e o fazem com granadas de memes filosóficos. Lançadas às 3h da manhã no X, invariavelmente transformam-se em manchetes internacionais na hora do café da manhã.Onde deveríamos situar personagens como esses nos debates tradicionais sobre os intelectuais? No final dos anos 1980, Zygmunt Bauman delineou dois arquétipos intelectuais: os “legisladores”, que desciam dos cumes das montanhas com os mandamentos da sociedade gravados em pedra, e os “intérpretes”, que se limitavam a traduzir entre dialetos culturais sem prescrever regras universais. Ele rastreou a erosão da atitude legislativa causada pela pós-modernidade. As grandes narrativas morreram. A autoridade universal definhou. Tudo o que restou foi interpretação. Nossos intelectuais oligarcas começam como intérpretes por excelência. Posicionam-se como médiuns tecnológicos, canais passivos para futuros inevitáveis. Seu dom especial? Interpretar as folhas de chá do determinismo tecnológico com perfeita clareza. Não prescrevem; simplesmente traduzem o evangelho da inevitabilidade. Isso cumpre a função “intelectual” de sua identidade de dupla hélice. Mas a cadeia de DNA oligárquico se enrola com mais força. Munidos de suas visões proféticas, exigem sacrifícios específicos: do público, do governo e de seus funcionários. Altman embarca em voos luxuosos entre capitais como um Kissinger tech, oferecendo tratados de paz para guerras de inteligência artificial que nem sequer começaram. Musk diagrama o destino cósmico da humanidade com a certeza de um plano quinquenal soviético. Thiel e Karp reformulam a estratégia de defesa, enquanto Andreessen reinventa o dinheiro e Srinivasan, a governança. Seu talento interpretativo se transforma, como um camaleão, em mandato legislativo. No processo, os intelectuais oligarcas do Vale do Silício construíram os portais de uma catedral a partir do que os pós-modernos um dia reduziram a escombros: uma grande narrativa com a palavra “tecnologia” (mas também “disrupção”, “inovação”, “inteligência artificial geral”) inscrita em cada pedra e carregada com o peso da inevitabilidade. Folheiam volumes como What Technology Wants [O que a tecnologia quer], de Kevin Kelly, não como leitores, mas como editores, anotando suas próprias exigências entre as linhas. O magnata tecnológico, que antes se contentava em prever o futuro, agora exige que nos ajustemos a ele. A metamorfose atinge sua fase final não em manifestos nem em threads de tweets, mas na colonização dos salões do poder em Washington. Observem-nos deslizar da sala de reuniões para a Sala do Gabinete, com a suavidade do mercúrio e o impulso de seu propósito, após terem fundido magistralmente interpretação e legislação: primeiro profetizam as exigências da tecnologia, depois projetam políticas para satisfazer os deuses que eles mesmos inventaram. Enquanto os soldados da Guerra Fria da RAND sussurravam nos corredores do Pentágono, nossos intelectuais oligarcas orquestram a sinfonia da realidade: controlando plataformas midiáticas, desdobrando capital de risco como em bombardeios de saturação e aperfeiçoando a estratégia de “inundar a zona” de Steve Bannon ao nível de uma ciência hidráulica [25]. Combinando poderes antes dispersos entre diversos âmbitos sociais, propõem futuros na segunda, financiam na terça e forçam sua materialização na sexta. E quem questiona os profetas cujas revelações anteriores deram origem ao PayPal, Tesla e ChatGPT? Seu direito divino de prever emana de sua comprovada divindade. Seus pronunciamentos enquadram a consolidação e expansão de suas próprias agendas não como interesses corporativos, mas como a única possibilidade de salvação do capitalismo. O “Manifesto Tecno-Otimista” [26] – essa encíclica digital que exorta os EUA a “construir” em vez de lamentar – transborda de referências ao estagnação econômica e prescreve a audácia empresarial como único antídoto contra a esclerose sistêmica. Invocando Nietzsche e Marinetti [27], legisla a aceleração como virtude e condena o impulso cauteloso como heresia. “Acreditamos que não há problema material – entoa – que não possa ser resolvido com mais tecnologia”. Isso não é apenas uma declaração, é um catecismo para o futuro almejado. Thiel, em sua insistência permanente de que o Ocidente perdeu sua capacidade para inovação audaciosa, também evoca a imagem de um deserto tecnológico que o Vale do Silício deve irrigar. Enquanto isso, Altman executa uma dança de dois passos: primeiro declara que a IA devorará empregos e depois postula a renda básica universal como única solução lógica, não apenas com floreios retóricos, mas com dólares para pesquisa e com a Worldcoin, sua outra startup menos conhecida (afinal, por que não cobrar, talvez perpetuamente, em troca de permitir que Sam Altman escaneie sua íris?). Estas não são apenas obviedades egoístas, mas imperativos existenciais: rejeitem suas propostas e veremos a civilização desmoronar. Esta autopromoção messiânica – oligarcas tecnológicos que se autoproclamam porta-vozes oficiais da humanidade – levaria Antonio Gramsci a pegar apressadamente seus Cadernos do Cárcere. O marxista italiano teorizou sobre os “intelectuais orgânicos” como vozes que emergem das classes ascendentes, especialmente o proletariado, e traduzem interesses particulares em imperativos universais na batalha pela hegemonia cultural. A conclusão amarga? O capital venceu a esquerda em seu próprio jogo: os intelectuais oligarcas agora funcionam como os intelectuais orgânicos não oficiais do capital, e o capitalismo aperfeiçoou em uma década o que os socialistas não conseguiram em um século. Entre a fria aritmética da busca por lucros e o teatro messiânico do salvamento da civilização estende-se a contradição mais reveladora dos intelectuais oligarcas: eles devem extinguir as mesmas chamas revolucionarias que seus impérios alimentaram. Sua campanha obsessiva contra o wokeismo revela o reflexo mais antigo do poder: a contenção de suas próprias contradições. Observemos Musk denunciar o “vírus mental woke” [28], ou Karp atacar o wokeismo acusando-o de ser “uma forma de religião pagã superficial” [29]. Enquanto isso, Andreessen retrata as universidades de elite como seminários marxistas que produzem “comunistas que odeiam os EUA” [30]. Joe Lonsdale, outro magnata tecnológico (e cofundador da Palantir), tem sido o impulsionador da Universidade de Austin, a universidade anti-woke que espera produzir em massa “capitalistas que amam os EUA”. Rastrear as origens dessa ansiedade oligárquica exige revisar as previsões de Alvin Gouldner sobre a ascensão da “Nova Classe” no final dos anos 1970. Gouldner identificou uma “intelligentsia técnica” cujo DNA carregava em si mesmo um potencial revolucionário. Embora parecessem dóceis – “só querem desfrutar de suas obsessões opiáceas por quebra-cabeças técnicos” –, seu objetivo fundamental era “revolucionar permanentemente a tecnologia”, desestabilizando os alicerces culturais e a arquitetura social com sua recusa em adorar os deuses do passado. A aliança que Gouldner vislumbrou – engenheiros racionais unindo forças com intelectuais da cultura para desafiar o capital entrincheirado – constituía sua “Nova Classe”, uma força potencialmente revolucionária contida por seus próprios privilégios. Como demonstraram as décadas posteriores, a utopia de Gouldner nunca se materializou completamente (embora reacionários como Steve Bannon e Curtis Yarvin, com sua noção conspiratória de “A Catedral”, possam discordar). Entretanto, o Vale do Silício surgiu como uma estranha exceção. Suas bases – se nem sempre seus generais – impregnaram-se de ideais contraculturais, defendendo diversidade e hierarquias achatadas. Pesquisadores que exploram as trincheiras tecnológicas documentaram o surgimento de uma “subjetividade pós-neoliberal”, uma consciência alérgica à desigualdade e cada vez mais hostil à teologia empresarial que exigia entregar por completo a vida privada como oferenda no altar corporativo [31]. As evidências não são meramente anedóticas. Um estudo exaustivo [32] que rastreou doações a entidades políticas realizado em 2023 com 200 mil funcionários de 18 indústrias revelou que os trabalhadores de tecnologia destacavam-se particularmente por sua mentalidade anti-sistema, só superados em seu fervor liberal-progressista pelos boêmios da arte e do espetáculo. A fonte desse radicalismo reside precisamente naquilo em que Gouldner depositava sua fé: o que chamou de “cultura do discurso crítico” inerente ao próprio trabalho técnico [33]. Assim, os pesquisadores descobriram que funcionários não-técnicos das mesmas empresas de tecnologia não mostravam essa disposição rebelde, confirmando que é a programação em si, e não a mera proximidade com mesas de pingue-pongue, que contribui para sua mentalidade dissidente. O mais revelador desse estudo era o profundo abismo entre trabalhadores de tecnologia liberais e seus chefes de direita: um abismo maior do que em qualquer outra indústria. Esse abismo era uma bomba-relógio e explodiu no início do primeiro governo de Donald Trump. Motivados por suas políticas desastrosamente executadas, porém agressivas – em relação a imigração, raça e guerra –, os funcionários do Vale do Silício transformaram-se de digitadores obedientes em dissidentes digitais. Impulsionados pelas redes sociais e pelas crescentes tensões raciais após o assassinato de George Floyd por policiais, os trabalhadores de tecnologia emergiram como um desafio inesperado. Os oligarcas viram-se emboscados por dentro: suas legiões de tendência progressista subitamente recusavam-se a emprestar sua arte técnica às máquinas de guerra do Pentágono [34] ou às diretivas de deportação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) [35]. Essas revoltas – no Google, Microsoft e Amazon – ameaçaram não apenas contratos comerciais, mas o próprio pacto que unia o Vale do Silício ao complexo industrial-militar. A segunda frente da rebelião – a consciência climática – surgiu com fervor evangélico quando funcionários da Amazon apresentaram seu manifesto verde, declarando-se capazes de “ampliar as fronteiras do possível” para a salvação do planeta [36]. Para os oligarcas, essa dupla rebelião contra o militarismo e a favor do ambientalismo – sem mencionar outras dores de cabeça, como os critérios ESG – representava um tumor maligno que precisava ser rapidamente extirpado. Incapazes de reprogramar sua força de trabalho por meios diretos, os intelectuais oligarcas do Vale do Silício adotaram uma solução mais elegante: condenar a infiltração woke com a devoção de caçadores de bruxas medievais, enquanto escondiam a segurança nacional atrás da retórica do dever patriótico. Karp, após coroar o wokeismo como “risco fundamental para a Palantir e os EUA”, agora exigia lealdade geopolítica de seus servos assalariados. Deviam apoiar Israel e opor-se à China [37]; quem discordasse tinha liberdade para procurar emprego em outro lugar. Como disse a sua plateia em Davos em 2023, “queremos [funcionários] que desejem estar do lado do Ocidente. Podem discordar disso, benditos sejam, mas não trabalhem aqui” [38]. Recentemente, Andreessen chegou a confessar ao Times que não era raro suspeitar que alguns funcionários ingressavam em empresas de tecnologia com o objetivo explícito de destruí-las por dentro [39]. A estratégia por trás de todas essas declarações é brutalmente simples: realinhar a intelligentsia tecnológica com o poder do velho dinheiro, purgando suas fileiras de pensamento subversivo. O sonho de Gouldner de uma aliança técnico-cultural está fraturado, destroçado por telegramas de demissão, zombarias contra a consciência social como fraqueza e pela paranoia patriotária sobre a competição chinesa. Os intelectuais oligarcas emergiram como uma entidade social estável e coerente, como subproduto dessa batalha pela hegemonia. E certamente não recuarão, nem mesmo após esmagarem seus inimigos woke e defensores dos critérios ESG. Chegam à Washington de Trump não como convidados, mas como arquitetos. Sua máquina de distorção da realidade – a hidráulica do dinheiro, o domínio das plataformas, as burocracias que se ajoelham para transformar fantasias privadas em políticas públicas – exerce uma força sem precedentes. Carnegie e Rockefeller inspiravam respeito, mas careciam deste arsenal letal: o megafone das redes sociais, a aura de celebridade, a motosserra do capital de risco, a chave mestra da Ala Oeste da Casa Branca. Ao reescrever regulamentos, canalizar subsídios e recalibrar expectativas públicas, os intelectuais oligarcas transmutam sonhos febris – feudos de blockchain, propriedades em Marte – em futuros aparentemente plausíveis. Felizmente, o que parece a fortaleza monolítica do poder tecno-oligárquico esconde falhas estruturais invisíveis para observadores devotos.Sua aparente capacidade de distorcer a realidade à vontade acaba por enfraquecer-se a si mesma, paradoxalmente, ao construir câmaras de eco que asfixiam o essencial espírito crítico, enquanto celebram a liberdade de expressão. Divorciados do toque cáustico dos fatos sem adornos, esses pontífices do Vale do Silício perdem seus instrumentos de navegação. E numa paisagem já saturada de culto aos fundadores, o contato com a verdade sem filtros torna-se cada vez mais escasso. (Não contem com hagiógrafos da corte como Walter Isaacson [40] para dizê-la!). Essa é uma das muitas formas em que a política não se parece em nada com os negócios. O capitalismo de risco padrão ainda enfrenta o frio veredicto do mercado. Os investidores de capital de risco que coroaram a WeWork como o futuro do trabalho viram como as realidades da pandemia estouraram sua bolha. O mercado, por mais defeituoso que seja, costuma testar as hipóteses de investimento. Mas o poder oligárquico oferece uma tentação ainda mais sombria: por que ajustar as previsões para que coincidam com a realidade quando se pode manipular a realidade para validá-las? Quando a Andreessen Horowitz decreta que as criptomoedas são as sucessoras inevitáveis dos bancos, o próximo passo não é a adaptação, mas a ativação: mobilizar influências no governo Trump para transformar a profecia em política. A colisão entre as fantasias de capital de risco e os fatos obstinados torna-se evitável quando se controlam os mecanismos para reconfigurar os próprios fatos. Essa é, portanto, a tática final: os intelectuais oligarcas reconfigurando a legislação, as instituições e as expectativas culturais até que a profecia e a realidade se fundam numa única alucinação (cortesia do ChatGPT, é claro). A realidade, no entanto, mantém seus limiares críticos, uma lição que os burocratas soviéticos aprenderam quando suas ficções cuidadosamente construídas colidiram com as limitações materiais. El Partido Comunista chino, más astuto en sus métodos, construyó sistemas de recopilación de reclamos de varios niveles – foros digitales, funcionarios locales, ONG autorizadas – que proporcionan inteligencia crucial sobre potenciales disturbios. Os intelectuais oligarcas demonstram precisamente o instinto oposto: estão seguindo o caminho soviético. O aparato DOGE de Musk buscou transformar os funcionários remanescentes em manequins que acenam com a cabeça, enquanto sua corte caça dissidentes em plataformas digitais com eficiência algoritmica. Ao optar por negar a realidade ao estilo soviético em vez de monitorá-la ao estilo chinês, criaram câmaras de eco que, em última análise, acabarão rachando seus projetos grandiosos. A ironia é profunda: esses homens que veem comunistas espreitando por toda parte estão prestes a aperfeiçoar o pecado capital da tecnocracia soviética, confundindo seus modelos elegantes com a realidade indomável que pretendem domesticar. Não deveria nos surpreender muito: quando os intelectuais oligarcas se apoderam do aparato mais poderoso da história, transformam-se, inevitavelmente, em apparatchiks – só que desta vez passando suas férias nas barracas improvisadas do Burning Man [41] em vez dos sanatórios luxuosos da Crimeia. Elon Musk pode ter começado como um Henry Ford, mas terminará como um Leonid Brejnev. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Sem água, quilombolas recuperam nascentes degradadas pelo agronegócioNo norte do Espírito Santo, grupo replanta árvores nativas em áreas desmatadas para cultivo de eucalipto. Objetivo é garantir acesso à água e preservar a cultura localFlávia Santos mora às margens de um rio. A uma distância de 500 metros, ou o tempo de uma corrida rápida que, na infância, ela empreendia em poucos minutos antes de mergulhar. Mesmo assim, ao menos duas vezes por semana, ela se vê obrigada a, munida de galões de plástico, percorrer 5km em busca de água para beber ou cozinhar. Nos dias bons, o caminho é feito numa caminhonete. Nos dias ruins, a água vem de charrete, puxada por cavalos. Aos 32 anos, Flávia nasceu e se criou na comunidade Angelim II, às margens do rio de mesmo nome. A comunidade quilombola fica no norte do Espírito Santo, quase divisa com a Bahia, numa região conhecida como Sapê do Norte. Vista do alto, em imagens de satélite, Angelim II lembra um quadrilátero assimétrico, espremido entre o rio e vastos campos de eucalipto. Por lá, o lençol freático que um dia alimentou poços e nascentes, secou. O abastecimento municipal de água é feito quinzenalmente, por um caminhão pipa, e o rio mais próximo — apenas alguns passos distante da casa de Flávia — foi poluído pelos agrotóxicos usados no cultivo da cana-de-açúcar pelos fazendeiros da região. “Estamos ilhados pelo eucalipto. Sem terra para cultivar nem água para beber”, afirma. Em novembro do ano passado, num desses dias em que faltava água e Flávia teria de percorrer 5km até a nascente mais próxima, ela se pôs a pensar. “Queria encontrar um jeito de reverter esse quadro. Uma forma de recuperar as nascentes e lagos que um dia existiram no entorno da comunidade”. Hoje, a administradora de empresas lidera um projeto que busca replantar, nas bordas de antigas nascentes, as árvores nativas que foram substituídas pelo eucalipto. O objetivo é dar a elas a chance de voltar a verter água. O esforço envolve o trabalho de toda a Angelim II e de comunidades próximas. Além de garantir o abastecimento de água, o projeto de Flávia pretende resgatar as memórias e os modos de vida de uma população que teme desaparecer, engolida pelo agronegócio.
Liderado por Flávia Santos, projeto reúne toda a comunidade para recuperar nascentes degradadas (Foto: arquivo pessoal) As comunidades quilombolas do Sapê do Norte foram , um dia, bastante numerosas. Chegaram a abrigar 12 mil famílias em um território de mais de 17 mil hectares nas cercanias do município de Conceição da Barra. O cenário mudou com a chegada da monocultura de eucalipto em meados do século XX. “Aos poucos, a empresa donas das plantações foi se apropriando das terras num processo de grilagem”, conta Josi Santos, advogada da Comissão Quilombola do Sapê do Norte. Na memória dos mais velhos, o processo foi violento. “Minha avó contava que, um dia, acordou com o barulho de máquinas destruindo as matas”, diz Flávia. Assustada, a senhora teria fugido com os filhos a tira-colo, para se refugiar na floresta.
Antes caudaloso, o rio Angelim perdeu volume com a mudança no regime de chuvas (Foto: arquivo pessoal) À medida que o eucalipto avançava, as comunidades quilombolas minguavam. Dados do projeto Mapa de Conflitos — Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, desenvolvido pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, indicam que, desde os anos 1960, 90% das famílias quilombolas que viviam na região migraram. Sem terras para cultivar, foi esse também o destino da maior parte da família de Flávia. Quem resistiu foi, justamente, sua avó, dona Luzia. “Minha avó criou 16 filhos — oito biológicos e oito adotados — sozinha em um alqueire de terra”, conta Flávia. Um alqueire é o equivalente a, mais ou menos, dois campos de futebol. Os filhos de Luzia se estabeleceram em casas no entorno da dela. O mesmo fizeram alguns dos netos. “Hoje, vivemos nesse mesmo único alqueire. É insuficiente para plantar e criar animais”. Nas memória da neta, Luzia era uma senhora baixinha, doce e severa. “Era uma quilombola linda”, diz Flávia, abrindo um sorriso largo. Temendo as consequências do avanço do eucalipto, Luzia passou a atuar no movimento quilombola. “Conforme a família crescia, ela percebia que o nosso território, que fora reduzido, logo não seria suficiente para garantir a sobrevivência de todos”. Dona Luzia, uma mulher simples e sem estudo, passou a lutar para que seus territórios fossem titulados. Aos 15 anos, Flávia passou a acompanhá-la nessa movimentações. Hoje, 16 das 32 comunidades no Sapê do Norte contam com registro de remanescentes de quilombo na Fundação Palmares. Esse reconhecimento é o primeiro passo de um longo processo que, idealmente, culmina na titulação dos territórios pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). No início nos anos 2000, explica a advogada Josi Santos, a entidade emitiu documentos como o Laudo Antropológico e o levantamento fundiário referentes a essas 16 comunidades. “Mas, desde então, os processos estão parados”, afirma. Hoje, o Incra reconhece 17 mil hectares como terras tradicionais dessas populações. Nos cálculos da Associação Quilombola de Sapê do Norte, 80% dessa área está ocupada por plantações de eucalipto. A atividade, hoje, é conduzida pela empresa Suzano Papel e Celulose, que adquiriu as plantações de uma companhia que já ocupava os terrenos. Frente a morosidade do processo de titulação, os quilombolas do Sapê do Norte ensaiam, desde 2020, tentativas de negociação com a empresa. “Queremos que a Suzano faça um recuo das plantações de eucalipto, de modo que as comunidades tenham espaço para cultivar alimentos”, afirma Josi. Foi criada uma mesa de negociações, com a presença do Ministério Público do Estado. Mas, segundo Josi, as conversas foram interrompidas pela Suzano.
Procurada, a companhia não respondeu aos pedidos de entrevista da reportagem O avanço da monocultura do eucalipto fez mais do que reduzir a área destinada a cultivos de subsistência. Espécie exótica, a planta é conhecida pelo crescimento rápido e por consumir muita água. “As mudas foram plantadas muito perto de lagos e nascentes. E eles secaram”, conta Flávia. A destruição da mata nativa ao longo dos últimos 50 anos mudou o regime de chuvas na região. O rio Angelim, antes caudaloso, hoje tem margens estreitas. “Você vê areia no chão”. As árvores também substituíram as espécies nativas do Sapê do Norte. E tomaram o lugar dos dendezeiros, cujo fruto os quilombolas transformavam em óleo para fritar quitutes. “Minha infância foi toda assim”, lembra Flávia. “Depois da escola, a gente tomava banho de rio e fritava piabas embaixo dos pés de jaca”. Outra prática comum era o artesanato com cipó. Usando a fibra da planta, as mulheres de Sapê do Norte confeccionavam cestas e adornos, vendidos nas cidades ou usados no dia-a-dia. “Mas cipó a gente só encontra em brejos e áreas alagadiças”, diz Flávia. Com a chegada dos eucaliptos, os brejos secaram. Em novembro, quando organizou o primeiro mutirão para recuperar uma nascente, Flávia diz que queria reavivar parte dessa memória. Decidida a tirar o plano do papel, ela convocou uma reunião com a comunidade. “Apresentamos o projeto e conversamos sobre preservação ambiental”, diz ela. O plano recebeu financiamento da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), uma organização que apoia projetos de defesa de direitos. Foram R$7 mil usados para comprar insumos e cultivar mudas de plantas frutíferas nos viveiro da própria comunidade.
Liderança quilombola do Sapê do Norte, Dona Luzia reivindicava a titulação de seus territórios (Foto: arquivo pessoal) Na manhã do primeiro mutirão, o trabalho começou antes das sete da manhã. O grupo de pouco mais de 20 pessoas rumou, animado, para uma lagoa há muito seca, nas imediações da casa de Flávia. O lugar figurava nas histórias da avó. “Ela falava com carinho dessa lagoa, onde lavava roupa e onde seus filhos nadavam”,diz Flávia. “Minha avó criou os filhos com os peixes dessa lagoa, que hoje está seca”. Lá, Flávia e os colegas removeram os eucaliptos das margens e plantaram as mudas de árvores frutíferas: aroeira, urucum, banana, mandioca e dendê. A lagoa foi rebatizada em homenagem à dona Luzia, falecida aos 82 anos. O mesmo foi feito em outras três nascentes da região, que receberam os nomes de ancestrais da comunidade. Além da nascente Luzia, há a Dona Joana, Soraldo e Brandino. Com isso, Flávia tenta preservar suas raizes. “É uma forma de manter vivas nossas memórias”, diz ela. “Eu não quero que meus filhos vivam as mesmas dificuldades que eu. Mas quero que eles saibam de onde vieram”. | A A |
| FUNDO BRASIL |
Portal Membro desde 13/10/2015 Segmento: Sociedade Premiações: |
A A | A inauguração dos sistemas foi feita de forma simbólica no sítio Pintado, na área rural do município de Timbaúba dos Batistas, na região do Seridó potiguar. “Dos 14 sistemas entregues, sete deles estão localizados na região do Seridó, que é uma área que sofre muito com a seca”, detalhou o ministro Waldez. “Eu e a governadora Fátima estamos ligando a chave desses sistemas em nome do compromisso do presidente Lula com o povo nordestino”, completou.
Os sistemas de dessalinização funcionam com o objetivo de ampliar o acesso à água potável em regiões afetadas pela escassez hídrica e alta salinidade das águas subterrâneas. Cada sistema tem capacidade de produção entre 600 e 1.800 litros de água potável por hora. Mais de 4 mil pessoas já são diretamente beneficiadas. Conforme explicou o secretário nacional de Segurança Hídrica do MIDR, Giuseppe Vieira, o Programa Água Doce é exemplo de parceria entre os governos Federal e Estadual com a comunidade. “Quem fica responsável por operar o sistema é o líder da comunidade beneficiada, que passa por capacitação para fazer a boa gestão do equipamento e garantir a durabilidade do projeto em prol da comunidade”, ressaltou o secretário. Água em casaOzenilda Pereira de Medeiros, 51 anos, é a responsável por cuidar do sistema de dessalinização do sítio Pintado. Ela passou por duas semanas de capacitação para aprender a operar a máquina que disponibiliza água tratada para a comunidade. “Eu fico feliz porque era um sonho me libertar dessa luta de carregar a água por quilômetros, o que não era fácil. E hoje a gente tem a água praticamente em casa. Eu venho com um carrinho de mão, encho de água limpa e levo para beber. E a outra água, a bruta, os bichos vêm e bebem”, relata. O poço onde a água é captada foi furado há sete anos, mas a população não tinha acesso pleno ao recurso hídrico. “A gente estava esperando isso aqui há muito tempo”, frisou Ozenilda. “A água não tem diferença nenhuma de uma água mineral. Por sinal, quem tomou achou até melhor”. O sistema atende oito famílias da comunidade. Ao todo, já foram implantados 153 sistemas de dessalinização no Rio Grande do Norte. Esses sistemas atendem cerca de 50 mil pessoas com água dessalinizada em todo o estado. Na região Nordeste, já são mais de 1.200 sistemas em operação. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Região Sul conta com R$ 2,2 bi para investir em modernização portuária e aprimoramento da logística hidroviáriaMarquezan AraújoOs investimentos estratégicos aprovados no mês de maio pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM) também serão aplicados em projetos instalados na Região Sul do Brasil. Os empreendimentos se concentram em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ao todo, serão investidos R$ 2,2 bilhões em iniciativas voltadas à modernização da infraestrutura portuária e ao aprimoramento da logística hidroviária. Os investimentos estratégicos aprovados no mês de maio pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM) também serão aplicados em projetos instalados na Região Sul do Brasil. Os empreendimentos se concentram em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ao todo, serão investidos R$ 2,2 bilhões em iniciativas voltadas à modernização da infraestrutura portuária e ao aprimoramento da logística hidroviária nacional. Os aportes são administrados pelo Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor). De acordo com a Pasta, os recursos vão contribuir para melhorar a logística dos estados, além de movimentar a economia do país. O ministro Silvio Costa Filho entende que os investimentos fortalecem a indústria naval. Na avaliação dele, a medida é importante para revitalizar o setor no estado gaúcho, após a tragédia diante das enchentes registradas no ano passado. “Estamos comprometidos com a recuperação plena do estado”, destaca o ministro. Projetos contempladosNo Sul do Brasil, uma das iniciativas em destaque é o projeto do terminal portuário operado pela Tecon Rio Grande, no Rio Grande do Sul. De acordo com o Mpor, o empreendimento contempla a aquisição de equipamentos de última geração para movimentação de carga e a adoção de tecnologias de automação. A ideia também é requalificar a infraestrutura logística já existente. Na unidade da federação, o investimento previsto é de R$ 496 milhões. Ao longo de quatro anos, a expectativa é de que sejam gerados 127 empregos diretos. Já em Santa Catarina, o valor investido é maior. O total é de R$ 1,4 bilhão. A quantia será destinada à construção de quatro rebocadores portuários e quatro embarcações OSRV (oil spill response vessel, em inglês, que significa navio de resposta a derramamentos de óleo). Esse tipo de embarcação atua na contenção e recuperação, caso haja eventuais vazamentos de óleo. Nesse caso, o intuito é ampliar a eficiência das operações portuárias, eliminar gargalos no escoamento de mercadorias e consolidar o porto como um importante hub logístico da região. Segundo o secretário Nacional de Hidrovias e Navegação, Dino Antunes, a revitalização do terminal vai aumentar a eficiência das atividades, o que contribuirá para uma melhor operação portuária. “Tivemos projetos muito relevantes, como embarcações que fazem a prevenção de derramamento de óleo. Essas embarcações, a serem construídas em estaleiros catarinenses, são em uma quantidade muito significativa. Também tivemos aprovações importantes no Rio Grande do Sul, a começar pelo terminal de contêineres de Rio Grande. Lembrando que a indústria naval representa - não só na construção de embarcações, mas também na manutenção e na operação - uma quantidade muito grande de empregos. Ou seja, é renda sendo trazida para a região”, pontua. Investimento bilionárioAo todo, o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante aprovou R$ 22 bilhões. O valor foi definido durante reunião realizada neste mês de maio. Trata-se do maior volume de recursos aprovados pelo Fundo em uma única reunião do conselho. A verba será empregada em 26 projetos ligados à construção de embarcações, reparos, docagens, modernização de unidades existentes, ampliação de estaleiros e novas infraestruturas portuárias. Fundo da Marinha MercanteO FMM visa prover recursos para o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval do Brasil. O Fundo é administrado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por meio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante. O FMM tem como agentes financeiros o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e a Caixa Econômica Federal. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Para dar corpo (e rostos) à luta decolonialCompreender o processo de colonização, que vai além da espoliação dos territórios, é passo essencial para combatê-la. A modernidade eurocêntrica é seu pilar. E seus tentáculos estão imbricados no Poder, no Ser e no Saber. E há quem diga que resistir a isso é “identitarismo” Para o pensamento decolonial, a modernidade, o capitalismo e o território que hoje denominamos de América Latina têm como marco histórico a expansão econômica e religiosa da Europa iniciada em 1492, mas é no século XVII que o projeto civilizador moderno, de forma mais consistente, fornecerá a cosmovisão que passará a fundamentar a lógica de funcionamento do seu modelo econômico, o sistema capitalista mundial: o dualismo cartesiano. Este é que vai passar a orientar a produção metodológica de conhecimento científico e de produção e reprodução da tecnologia moderna. A lógica do dualismo cartesiano, parte da perspectiva de que o ser humano encontra-se apartado da natureza, que ambos se encontram em polos opostos. Trata-se de um dualismo ontológico que separa forma de vida humana de outras formas de vida (fauna e flora). Estas são entendidas como objetos a serem apropriados pelo homem. Na cosmovisão da modernidade, o dualismo cartesiano é resultado do processo de secularização da visão de mundo da cristandade em que se compreendia a natureza, com suas forças indomáveis, como possuídas pela força do demônio e os seres humanos como parte do séquito divino dos imperadores e monarcas (poder temporal). Para cristandade, quem não era incorporado como pertencente ao séquito divino dos imperadores e monarcas era considerado como ser pecador, um herege cuja alma havia sido capturada pelo demônio. Acreditava-se que as mulheres estavam mais próximas do reino da natureza do que do reino humano, elas eram mais suscetíveis de cair nas tentações do demônio, como Eva, crença alimentada pelo patriarcalismo (de gênero e sexualidade) da cristandade. A cristandade produziu um dualismo teológico antagônico entre as forças divinas e as forças do demônio. Assim, quando intelectuais e cientistas tentaram trabalhar e compreender as forças da natureza foram condenados como hereges, como seres possuídos pelo demônio e queimados vivos na fogueira. Tais fenômenos foram produzidos como parte do obscurantismo da Idade Média na Europa, que passou a perder força a partir do século XVIII. Fora da Europa, as ciências floresciam na China, no mundo islâmico, na Índia, na África e no Mundo Novo, por que não havia uma visão dualista em suas cosmovisões, eram civilizações holísticas, nas quais a vida era compreendida como um sistema de interações entre todas as formas de existência. Nas cosmovisões holísticas a destruição de um ser pelo outro implica no desequilíbrio do sistema. O processo de secularização do dualismo teológico da cristandade tem início com Francis Bacon (método empirista moderno) e se completa com René Descartes (método racionalismo moderno). Ao ser secularizado, o dualismo teológico da cristandade perde a linguagem religiosa, mas mantém a sua cosmovisão: a separação ontológica entre seres naturais e seres humanos. Com a secularização a modernidade se afirma que não existe demônio na natureza, mas que a natureza é selvagem e como selvagem deve ser domada pelo homem e submetida aos interesses de suas necessidades, do progresso e do acúmulo de riquezas. O corolário desta visão é que a natureza (fauna, flora, rios, mares, montanhas, terra, minérios) viva deveria ser transformada em natureza morta (mercadoria e capital) num processo constante e infinito. A ideia de conhecimento objetivo, o pressuposto de que um conhecimento produzido a partir do rigor metodológico é verdadeiro e portador de valor universal, é um pressuposto das epistemologias modernas. A ideia de que a ciência e a tecnologia são axiologicamente neutras, são apenas meios, logo, a definição de seu uso para o bem ou para o mal é definida por quem as usam é outro mito moderno. Observando a história do desenvolvimento tecnológico na modernidade podemos identificar que a pesquisa tecnológica mais avançada, a que hoje chamamos de ponta, sempre foi orientada para produção de instrumentos de guerra (espadas, armaduras, espingardas, revólveres, canhões, tanques de guerra, navios, avião, bomba atômica, foguetes, armas químicas, internet, GPS, etc.), que tem como sua finalidade primeira a destruição da vida humana e não humana. O sistema econômico da modernidade, o modo de produção capitalista, tem um dos seus focos de produção de mercadorias – principalmente máquinas e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos – que são fabricadas a partir de estudos e pesquisas voltadas para tornar o seu ciclo de vida muito curto. A depreciação das mercadorias é calculada para torná-las descartáveis, o que implica numa necessidade constante de mais matéria-prima (natureza morta), alimentando uma cultura de consumismo desenfreado e uma produção gigantesca de lixo comum e eletrônico. Tal fenômeno é uma negação da ideia de desenvolvimento sustentável. Outro fenômeno que podemos identificar é a falácia da chamada transição energética, na qual podemos constatar com dados quantitativos que a expansão da exploração de novas formas de energias é somada às antigas, sem que ocorra a substituição de uma por outra. O sistema econômico da modernidade opera a partir dos fundamentos da cosmologia do Iluminismo moderno, logo não existe tecnologia sem cosmologia. Se observarmos de forma atenta as propagandas de carros 4X4, das empresas transnacionais, disponibilizadas em nossos aparelhos de televisão, podemos identificar que as máquinas sempre aparecem fazendo manobras danosas e predatórias na natureza, são máquinas manobradas por homens em ações que passam a ideia de que estão domando a natureza selvagem, numa ostentação de força e potência fálica contrária aos apelos de proteção ambiental. São propagandas voltadas para um pequeno público que tem um poder aquisitivo que falta a maioria da população empobrecida pelos mecanismos de dominação e exploração do trabalho dentro da lógica do capital. Há algum tempo, a cosmovisão moderna vem orientando estudos e pesquisas em tecnologias para tornar o seu modo de produção independente, o máximo possível da força de trabalho, ou seja, que o trabalho humano possa ser descartado do processo produtivo. Esse fenômeno é uma prova evidente de que o projeto civilizador moderno é um projeto de morte e não um projeto emancipador voltado para a vida. O destino reservado aos homens e mulheres desnecessários como força de trabalho vai ser a exclusão, a privação e a morte. Não é por acaso que foi na modernidade que aconteceram os maiores genocídios da história do planeta, o maior volume de guerras com o maior potencial destrutivo, o fascismo, o nazismo, o stalinismo, as ditaduras. Não é por acaso que hoje, diante da crise do projeto civilizador moderno e do seu sistema econômico, estamos vivendo o avanço da extrema direita fascista, portadora de uma ideologia de morte que vem encontrando, de forma contraditória, eco nas mentes eurocentradas de jovens, negros, comunidade LGBTQIAPN+, mulheres e homens de todas as classes sociais. A partir da terceira revolução industrial, principalmente agora, quando temos em curso a quarta revolução industrial, uma assombrosa profusão de novidades tecnológicas envolvendo a inteligência artificial (AI), a robótica, veículos autônomos, impressão em 3D, inteligência artificial, internet das coisas (IoT), nanotecnologia, biotecnologia, ciências dos materiais, armazenamento de energia e computação quântica, numa fundição de conhecimentos científicos e tecnológicos dos mundos físico, biológico e digital, o projeto civilizador moderno não só pretende descartar a maior parte dos seres humanos do processo produtivo, como pretende fazer a transição da natureza orgânica – por ele depredada, transformada em coisa e mercadoria, esgotada – para uma outra natureza: inorgânica, transgênica e artificial. Ampliando o foco do raciocínio dos economistas, afirmamos que não vivemos apenas numa sociedade sob a crise do capitalismo, mas numa crise civilizacional cuja cosmovisão orienta o modo de produção capitalista. Dessa premissa podemos auferir que centrar toda nossa potência e vontade transformadora apenas no sistema econômico e suas crises, esquecendo a civilização moderna, limitamos em muito nossa capacidade de transformação do mundo, pois ficamos presos a pequenas reformas no campo da política e da economia num ciclo de fluxo e refluxos conjunturais e não enfrentamos o lado obscuro da modernidade, a colonialidade, que alimenta uma crise bem mais ampla e que não se resolve apenas por meio de uma alternativa econômica. Aliás, a cosmovisão moderna impõe a ideia de que o neoliberalismo é a única e nova razão econômica do mundo e que chegamos ao fim da história, o fim do sujeito politico e o fim das utopias. Na modernidade ocidental, a colonialidade, como parte constituinte se seu ser, é constituída de três componentes imbricados em si: a Colonialidade do Poder, a Colonialidade do Ser e a Colonialidade do Saber. O Estado-nação moderno, como administração do sistema de dominação, de gestão do ordenamento jurídico, do comando da violência denominada de legítima e dos interesses do mercado, é o espaço da efetivação e reprodução da Colonialidade do Poder. No sistema mundo moderno/colonial cada época um Estado-nação assume a função de poder imperial. No século XVI o posto foi assumido pela Espanha que perdeu o lugar para Inglaterra. No pós-guerra a Inglaterra perdeu o posto para os Estados Unidos, hoje alguns afirmam que a posição imperial estadunidense vem sendo ameaçada pela China. A colonialidade do ser diz respeito ao ethos cultural, ou seja, a maneira de ser e de estar no mundo. A colonialidade do ser é a universalização do ethos cultural do homem branco, europeu-norteamericano, cristão, patriarcal, heteronormativo, racista, capitalista, imperialista e epistemicída. É por meio da colonialidade do ser que o modo de vida da civilização moderna eurocêntrica torna-se o modelo de vida de povos colonizados e eurocentrados, ou seja, torna-se possível que os desejos e a visão de mundo dos colonizados e dominados sejam iguais a dos seus opressores. Assim, tanto governos de direita como de esquerda dos países que foram colonizados e ainda se mantêm na condição de países periféricos do Sul global e sob uma dinâmica de dependência do Norte Global têm como modelo de desenvolvimento países imperiais que compõem o G7, modelo que só se mantém pelo controle e dependência dos países periféricos. No Brasil, nos dois primeiros mandatos do governo do PT, Lula de forma entusiástica afirmava que o Brasil estava saindo da condição de país emergente para se tornar um país de primeiro mundo e reivindicava um assento no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, queria tornar o Brasil um país imperial ao lado do G7, chegou mesmo a propor e contribuir para organização do G20. Na cabeça de nossas lideranças de esquerda eurocentradas é isso que significa deixar de ser vira-lata para pensar grande. Pensar grande é deixar de ser dominado, explorado e subalternizado, para ser dominador, explorador e subalternizador. A colonialidade do ser está em nós, nos nossos desejos e no nosso comportamento, pelo qual reproduzimos as hierarquias de dominação do processo de civilizador moderno. No livro Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves, Kehinde, a protagonista da obra, que nasceu em Savalu, reino de Daomé, na África, foi raptada e escravizada, violentada pelo seu senhor, escrava de ganho e viveu no Brasil, mas que ao conseguir sua liberdade, montou vários negócios, virou empresária e passou a ter escravos lhe servindo. A colonialidade do saber é o mecanismo por meio do qual o projeto civilizador moderno coloniza nosso imaginário, modelando nossa subjetividade e nossas relações intersubjetivas, definindo nossa forma de pensar, de produzir e reproduzir conhecimento. É a colonialidade do saber que desqualifica, inferioriza e trata como senso comum, saber prático e sem valor os saberes e epistemologias das civilizações não modernas e dos povos colonizados, também trata de forma preconceituosa a cultura dos povos colonizados, classificando-a como manifestação folclórica, ou seja, algo de valor inferior à cultura. É por meio da colonialidade do saber que os saberes, as epistemologias, as filosofias, a produção científica e tecnológica dos povos colonizados e de outras civilizações são invisibilizados e desvalorizados e muitas vezes apropriados e divulgados como seus. É por meio da colonialidade do saber que o conteúdo dos ensinos em nossas escolas e universidades é eurocentrado, ou seja, é focado em estudos, conhecimentos, pesquisas e autores europeus e norte-americanos que produzem conhecimentos a partir da sua realidade e não da realidade de nossos países. A colonialidade do saber é promotora do epistemicídio. Daí porque a necessidade de decolonizar nossas escolas e universidades valorizando as Epistemologias do Sul e criando uma ecologia de saberes para romper com o império cognitivo eurocêntrico, como diz Walter Mignolo, é preciso que ponhamos em prática uma desobediência epistêmica a partir de um pensamento outro. Ao falarmos de pensamento decolonial e agir decolonial, estamos nos referindo não ao processo de colonização territorial, mas à colonialidade como parte constituinte da Modernidade. Decolonial refere-se ao processo de descolonialidade do poder, do ser e do saber. Assim, ao falarmos de descolonialidade precisamos saber do que estamos falando com certa precisão. Quando falamos que decolonizar é preciso, estamos nos referindo à descolonialidade das hierarquias de dominação, exploração, violência, racialização e subalternização. O pensamento decolonial não é um pensamento identitário, mas um pensamento antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, anti-imperialista, transmoderno e pluriversal. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Idosos “sem-sem”: O caos geracional no BrasilEm 2024, houve recorde na geração de empregos. Mas, para quem tem mais de 50 anos, foram fechados 160 mil postos de trabalho. De um lado, há o etarismo no mercado de trabalho. Do outro, aposentadoria inalcançável. A “economia prateada” suprirá a falta de políticas públicas? Por Fabíola Mendonça, na CartaCapital Depois de um longo período de estagnação da economia e alto índice de desemprego, o Brasil voltou a comemorar o pleno emprego. Somente em 2024, foram abertos quase 1,7 milhão de postos de trabalho, um crescimento de 16,5% em relação a 2023, ano em que o mercado de trabalho formal já dava sinais de melhoras, revelam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego no fim de janeiro. Trata-se, sem dúvida, de excelente notícia para o País. Há, porém, um fator que suscita preocupações: 90% dessas vagas foram ocupadas por jovens de até 24 anos. Para os brasileiros com mais de 50 anos, o cenário é bem diferente, foram fechados quase 160 mil postos de trabalho. O Censo Demográfico do IBGE de 2022 não deixa dúvida quanto ao acelerado processo de envelhecimento da população, uma tendência que já vinha se desenhando desde o fim do século passado. O número de idosos cresceu 57,4% em 12 anos. A previsão é de que eles representem mais de 50% dos habitantes do País até 2100, índice que, até a metade do século passado, não chegava nem a 10% da população. Um cenário desafiador para os gestores públicos e para a sociedade em geral, que precisam correr contra o relógio para se adaptar ao novo cenário. Para manter a força motriz da economia nacional, será preciso repensar o papel reservado aos brasileiros com mais de 50 anos no mundo do trabalho e no mercado consumidor. A chamada economia prateada é uma realidade da qual não podemos nos desviar. Sob o argumento de garantir a sustentabilidade da Previdência, sucessivas reformas deixaram a aposentadoria cada vez mais distante. De fato, a expectativa de vida do brasileiro quase dobrou ao longo de um século, mas o mercado de trabalho não tem assegurado oportunidades a quem ainda não atingiu a idade mínima ou cumpriu os requisitos para se aposentar. Ao contrário, os trabalhadores mais experientes tendem a ser precocemente descartados, como revelam os dados do Caged. Para complicar ainda mais o cenário, o processo de envelhecimento da população está ocorrendo a um ritmo mais acelerado que o visto nos países europeus. A França, por exemplo, levou 200 anos para aumentar a proporção de idosos na população, de 7% para 28%. “Estamos fazendo uma transição muito rápida, ela está se dando em 50 anos”, analisa o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, pesquisador aposentado do IBGE. “É um desafio muito grande para os gestores, para as políticas públicas, para a sociedade, para as famílias e para as pessoas se adaptarem a essa nova realidade.” Alheio a esse novo fenômeno, o mercado de trabalho é a representação máxima do etarismo. Com raras exceções, as empresas estão, cada vez mais, substituindo trabalhadores 50+ por mão de obra mais jovem e, geralmente, mais barata também. A dificuldade de permanecer no mundo corporativo não é novidade para os trabalhadores grisalhos, principalmente para a camada considerada idosa pela lei, quem tem mais de 60 anos. Historicamente, esse grupo é vítima de preconceito, algo que foi potencializado com a pandemia de Covid–19, quando muitos profissionais nessa faixa etária foram substituídos pelos mais jovens. Segundo Ana Karla Cantarelli, pesquisadora e especialista em desenvolvimento de pessoas, os números negativos do Caged para essa população refletem a herança da pandemia, mas também a discriminação estrutural no mercado laboral. “Não há uma justificativa apenas, a causa desse fenômeno é multifatorial. O grupo acima de 50 anos foi o que mais perdeu empregos na pandemia, porque concentrava os salários mais altos, e ainda vemos o resquício disso. Além do etarismo, há uma forte exigência por atualização e qualificação profissional, que eu acho que a gente precisa ter mesmo”, diz a especialista, acrescentando que o mercado necessita de um novo pacto geracional, onde experiência e inovação possam caminhar lado a lado. “O futuro do trabalho não tem idade, ele exige competência. E a geração mais velha tem muito a contribuir, muito mais do que o mercado imagina e, às vezes, até mais do que a própria geração 50+ acredita. O mundo corporativo não quer mais apenas o conhecimento técnico, quer maturidade emocional e inteligência relacional. E isso os mais experientes têm de sobra.” Com 58 anos de idade, o contador Geisomar Pires contempla as características elencadas por Cantarelli, mas precisou adaptar-se a uma realidade de muita desvalorização dos profissionais mais velhos para voltar ao mercado formal. Ele trabalhava como gerente administrativo e financeiro de uma grande construtora no Recife, com proventos que ultrapassavam 20 salários mínimos, além de vários benefícios. Em 2016, aos 50 anos, foi demitido e, com a indenização recebida, tentou empreender. Foi pego de surpresa pela pandemia, período que acumulou grande prejuízo, e há pouco mais de um ano voltou a trabalhar com carteira assinada. O salário é, porém, infinitamente menor do que recebia no antigo emprego. “É até natural que os mais experientes não consigam acompanhar a velocidade dos mais jovens. O que ainda faz com que alguns profissionais acima dos 50 anos resistam é o fato de que o conhecimento nunca será desprezado e o aprendizado obtido através da prática e da vivência será sempre útil e desejado”, salienta Pires, que está a um ano de completar os requisitos para se aposentar. E consenso entre os especialistas em recursos humanos e gestão de pessoas a necessidade de os profissionais acima de 50 anos continuarem estudando, buscando atualizar-se a partir da demanda do mercado. Segundo Ricardo Haag, headhunter e sócio da Wide Executive Search, empresa especializada no recrutamento de executivos para cargos de média e alta gestão, está em curso, numa escala ainda bem pequena, um movimento no mundo corporativo de buscar profissionais mais velhos para ocupar cargos de liderança. “Com 60 anos, a pessoa está a pleno vapor em termos de energia e experiência. Dá de mil a zero em muita gente de 20 anos. As empresas estão vendo isso e há uma tendência, cada vez maior, de absorção dessa mão de obra mais experiente”, diz, embora reconheça que ainda há grande resistência por parte dos empregadores com essa faixa etária. “É preciso um movimento das empresas para contratar essa mão de obra, mas também é necessário mais empenho dos profissionais. Muitas vezes, sinto uma insegurança brava, uma descrença de que aquela pessoa vai alcançar o espaço almejado”, explica Haag. “O sucesso da jornada depende muito da pessoa, o quanto ela se atualiza, se dedica pela busca, o quanto ela trabalha networking e investe tempo em formação para se manter firme nesse ambiente tão competitivo”, diz. “Estamos entrando numa dobradinha intergeracional e vejo muitas organizações implantarem políticas de inclusão para a população 50+, movimentando a economia prateada, que tem também um público consumidor grande. Para se manter viva profissionalmente, essa parcela dos brasileiros precisa investir em atualização tecnológica e voltar a aprender coisas a que ainda não teve acesso.” José Dari Krein, doutor em Economia Social e do Trabalho e professor da Unicamp, enxerga uma janela de oportunidade para os trabalhadores mais velhos, que representam um contraponto à apatia dos mais jovens em um mercado cada vez mais precarizado. “Existe uma mudança na percepção da juventude sobre o significado do trabalho, que faz com que uma parte importante dessa parcela da sociedade não queira trabalhar em qualquer coisa. É uma força de trabalho menos engajada, menos comprometida com aquilo que as empresas esperam”, opina. Com o envelhecimento da população brasileira, as empresas terão dois caminhos a seguir: ou absorver a população 50+ e melhorar as condições de trabalho para esse público ou terão de recorrer a imigrantes mais jovens para ocupar os precários postos laborais, como já acontece na Europa. Se, por um lado, as pessoas acima de 50 anos estão perdendo seus empregos, por outro, o sonho da aposentadoria para esse grupo fica cada vez mais inalcançável. Segundo Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho e coordenador da rede Plataforma Política e Social, cerca de 100 milhões de brasileiros estão inseridos na população economicamente ativa. Destes, metade ou está desempregada ou na informalidade, e a outra metade contribui para a Previdência Social. Ocorre que, segundo a previsão do pesquisador, grande parte desses 50% que têm emprego formal não vai alcançar os critérios necessários para se aposentar, o que deve gerar um caos geracional a partir do empobrecimento exponencial da população mais velha. “Parte das pessoas que hoje estão na informalidade já não contribui com a Previdência e, portanto, não vai cumprir as regras de aposentadoria. A outra parte, que está no mercado formal, normalmente não fica no emprego continuamente. Tem períodos que está na formalidade e outros na informalidade, o que torna muito difícil cumprir os 20 anos exigidos de contribuição para o homem e 15 anos para a mulher para ter direito à aposentadoria. As pessoas que têm carteira assinada, por conta da rotatividade e de uma série de outros fatores, passam um bom período no mercado informal ou desempregadas”, explica Fagnani, ressaltando que a informalidade no Brasil vai aumentando progressivamente na medida em que as pessoas vão envelhecendo. “A chance de uma pessoa de 60 anos encontrar um emprego com carteira assinada é mínima. E, com as restrições a partir da reforma da Previdência de 2019, o cenário que vejo em 2060 é uma massa de velhos desassistidos, que vão frequentar os viadutos e os semáforos.” Autor do livro Previdência: o Debate Desonesto (Ed. ContraCorrente), Fagnani é um crítico ferrenho das sucessivas reformas da Previdência e da narrativa do mercado financeiro de que o Brasil não aguenta manter o sistema de aposentadoria de seus trabalhadores. Ele lembra que 80% dos idosos hoje têm como fonte de renda a aposentadoria ou o Benefício de Proteção Continuada, o BPC. “O que acontecerá em 2060, quando o País terá uma quantidade enorme de idosos que não vão ter fonte de renda porque o mercado de trabalho não oferece oportunidades e porque essas pessoas não conseguem se aposentar? Eu não vejo um cenário de crise fiscal, de colapso financeiro, como o mercado diz. Eu vejo é um cenário de colapso social, uma crise social gravíssima”, salienta. “Não adianta fazer uma reforma alongando o tempo da contribuição, excluindo várias pessoas por critérios draconianos. Isso não vai resolver o problema. O que tem de acontecer é encontrar alternativas para financiar a Previdência”, acrescenta Krein. Excluídos do mercado de trabalho e com uma aposentadoria quase inalcançável, os trabalhadores 50+ já estão sendo chamados de “sem-sem”, sem emprego e sem aposentadoria, um trocadilho com o desalento de parte da juventude brasileira, os “nem-nem”, que nem estuda nem trabalha. Segundo dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foram investidos, em 2024, ínfimos 15 milhões de reais para políticas públicas de assistência à pessoa idosa. Alexandre da Silva, secretário do órgão, destaca que um dos grandes desafios do governo é implantar uma política pública voltada para reduzir o quanto antes o alto índice de analfabetismo entre os idosos, o que reflete diretamente no mercado de trabalho para esse público. “São mais de 11 milhões de analfabetos e metade deles é de pessoas idosas. Estamos em fase de conclusão do Plano Nacional do Idoso, o qual tem como uma das prioridades aumentar a escolaridade e estimular a formação técnica-tecnológica dessas pessoas”, explica. “Quando a gente pensa no trabalho, tem de pensar também no estímulo para a formação. Queremos criar formas mais equitativas para alcançar esses grupos.” Na velocidade com que o envelhecimento da população brasileira vem acontecendo, os problemas são sentidos muito além do mercado de trabalho. Há um forte impacto, por exemplo, na área da saúde. O aumento da expectativa de vida e a mudança na pirâmide etária da população alteraram os tipos de doenças mais comuns no País, prevalecendo, hoje, as chamadas doenças crônico-degenerativas. “Ao viver mais, as pessoas adquirem hipertensão, diabetes, doenças do aparelho hoste-locomotor, demenciais, Alzheimer, Parkinson, câncer. E, claro, isso só acontece agora porque antes não dava tempo, as pessoas morriam muito cedo”, explica o médico e ex-ministro da Saúde Arthur Chioro, acrescentando que dois terços dos óbitos no País são por doenças crônico-degenerativas e estão diretamente relacionadas ao processo de envelhecimento. Segundo Chioro, que participou da equipe de transição da saúde do governo Lula, essa pauta do envelhecimento está no radar do governo e deve ser trabalhada para atender não apenas os atuais, mas também os futuros idosos. “Precisaríamos priorizar o cuidado desde os bebês, para, por exemplo, combater a obesidade na infância, na adolescência. E fazer diagnóstico precoce de diabetes, de hipertensão e tantas outras doenças, ter uma alimentação mais saudável, combater o tabagismo e o uso abusivo de álcool, combater o sedentarismo. Isso tem de ser feito em todas as faixas, para que as pessoas possam ter um padrão de envelhecimento melhor”, diz. “No caso dos idosos, vamos precisar ampliar a oferta de cuidados na atenção básica, porque não adianta ficar internando, colocando todo mundo em um hospital. O cuidado é na atenção primária, é na estratégia de saúde da família, é no acompanhamento do desenvolvimento saudável, do controle das doenças, do cuidado com a saúde mental e assistência farmacêutica.” Os números confirmam a transição epidemiológica em curso. Até os anos 1960, a maioria dos brasileiros morria em decorrência de doenças infecciosas ou de parasitas. A partir dos anos 1970, as doenças cardíacas e do aparelho circulatório assumem a liderança e, agora, há um progressivo crescimento das neoplasias (câncer), cujos tratamentos são exponencialmente caros. “Tudo isso significa maior pressão sobre o sistema de saúde. O Brasil está fazendo uma transição demográfica de maneira muito rápida e isso demanda novos olhares, novas abordagens sobre a organização do sistema de saúde, o que impacta nos custos”, destaca o médico José Gosmes Temporão, ex-ministro da Saúde. Temporão defende que o Brasil assuma a autossuficiência na área de tecnologia na fabricação de medicamentos. “O Brasil depende hoje de 90% dos princípios ativos de fora e a produção de medicamentos é importada da Índia e da China. O governo brasileiro tem uma política, que comecei em 2008, de fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde que agora está num novo momento, muito mais fortalecido, que é de estimular parcerias público-privadas entre laboratórios de capital nacional, multinacionais e laboratórios públicos de transferência de tecnologia.” O ex-ministro diz ser preciso, ainda, uma mudança no sistema de saúde, hoje organizado, principalmente, para atender emergências e quadros mais agudos. “Tem a dimensão tecnológica, a científica, a financeira e também a dimensão organizacional. O sistema de saúde vai ter de migrar para uma nova estrutura, uma nova compreensão de como cuidar desses pacientes com doenças crônicas e, muitas vezes, múltiplas. As novas tecnologias de Inteligência Artificial e outras de telessaúde podem ser um instrumento poderosíssimo para enfrentar esses desafios”, ressalta. O envelhecimento populacional traz muitos desafios, mas também boas oportunidades de negócios. A economia prateada envolve todos os produtos e serviços adquiridos por essas pessoas, movimentando em torno de 2 trilhões de reais por ano no Brasil, ou 23% do consumo de bens e serviço, de acordo com a consultoria Data8. O setor é a terceira maior atividade econômica do mundo, movimentando mundialmente 7,1 trilhões de dólares anualmente. “As pessoas idosas têm um grande potencial de serem aproveitadas nas atividades econômicas e corporativas, mas também é um grande público consumidor, são pessoas voltadas muito para o bem-estar, para a sua realização pessoal”, lembra Krein. De olho nesse nicho, o empresário Fábio Alves criou a 3i Residencial Sênior, uma instituição de longa permanência para idosos, uma mescla de clínica e hotel para esse público. “A pessoa contrata o serviço de hospedagem dentro de um processo de moradia assistida, onde ela é inserida num residencial com suporte assistencial de cuidadores, equipe multidisciplinar e suporte clínico. São médicos, fisioterapeutas, aulas de artesanato e atividade física. E aí a pessoa paga uma mensalidade pela prestação de serviço”, explica Alves, que já conta com quatro unidades em funcionamento no interior de São Paulo e outras quatro em construção, expandindo os negócios para uma rede de franquias, uma delas já com inauguração prevista para o meio do ano, no Recife. Como projeto para o ano que vem, a empresa pretende construir um condomínio residencial voltado exclusivamente para idosos. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
A tempestuosa identidade (latino-)americana no BrasilPindorama, dizem, vive de costas para seu continente. Em novo livro, Bernardo Ricupero debruça-se sobre as interpretações que politizam – entre apropriações e conflitos de ideias – a inserção brasileira entre os hermanos É recorrente a ideia de que Brasil e América Hispânica estão de costas um para o outro na história intelectual. A variação mais contundente da mesma afirmação mobiliza inclusive a expressão América Latina como se ela fosse sinônimo ou prerrogativa das antigas colônias espanholas, nossas vizinhas. Quantos acadêmicos brasileiros se descobriram latino-americanos em departamentos universitários norte-americanos, ao menos quando eles pareciam locais atraentes para se ir? Outros, por razões biográficas acidentais e ideológicas, cultivaram interesse e conhecimento ímpares sobre o Brasil na América Latina. O assunto volta à tona como problema sociológico e político em vários momentos importantes, como foi o caso da questão do desenvolvimento nos anos 1950 e 1960, que gerou, inclusive, teorias relativamente originais no quadro mais amplo do debate sobre a modernização. O que sugere, portanto, que mais do que exatamente um desconhecimento mútuo, essa história parece, antes, talvez, a reiteração de uma ideia de desconhecimento mútuo como um autocultivo. Uma espécie, ela também, de impressão de recomeço do zero a cada nova geração, no Brasil? São problemas muito difíceis e para os quais não há respostas unívocas. Mesmo porque relações culturais – ponhamos assim em termos bem gerais – não são estáveis, não se desenvolvem cumulativamente num sentido unívoco e de aperfeiçoamento das partes interlocutoras. E, claro, não estão acima dos conflitos sociais, políticos, econômicos e mesmo linguísticos. O Brasil, esse subcontinente falante da última flor do Lácio, cercado por todos os lados de uma das línguas mais faladas mundialmente, o espanhol. A propósito, uma das expressões mais dinâmicas nas relações entre o Brasil e seus vizinhos mais próximos é a espécie de língua livre, o “portunhol”, cada vez usada com menos constrangimento em nossas interações. O que pensaria disso um Manuel Bandeira, por exemplo, que, além de poeta, foi tradutor e professor de literatura hispano-americana na Universidade do Brasil, de 1943 a 1956? Bandeira, aliás, já atuava desde os anos 1930 como mediador com “los hermanos” na vida cultural do Rio de Janeiro, então capital federal do Brasil. É conhecida sua amizade com Alfonso Reyes, escritor e embaixador do México no Brasil de 1930 a 1936. Mas, sem querer jogar lenha na fogueira, o papel desempenhado por Bandeira junto aos escritores hispano-americanos não teve reciprocidade equivalente. Depois, já no período da Segunda Guerra e do domínio de Pablo Neruda, os escritores hispânicos passariam a ser recebidos por Aníbal Machado, na Visconde de Pirajá, em Ipanema. Bandeira, sempre presente, mas mais discreto, pois não faz poesia política. De Reyes, ele deixou a lembrança no célebre poema “Rondó dos Cavalinhos” (“Alfonso Reyes partindo,/ E tanta gente ficando”). Bernardo Ricupero é, sem dúvida, o intelectual brasileiro da nossa geração melhor preparado e equipado para lidar com questões das interpretações latino-americanas. Ele acaba de lançar sua tese de livre-docência, defendida em 2021 no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, em livro: Entre Ariel, Caliban e Próspero: dilemas da identidade (latino) americana pensados a partir do Brasil. E o que estão fazendo as personagens da última peça de William Shakespeare, A Tempestade, encenada em 1611, aqui ao Sul do Novo Mundo? Como mostra Ricupero, há bons indícios da associação da ilha deserta da peça à América, especialmente um naufrágio em Bermudas de um navio da Companhia da Virgínia, a cujos investidores o bardo inglês estava ligado por interesses. Para não lembrar do ensaio seminal “Dos canibais”, de Michel Montaigne, que sugere que Caliban seria um nativo americano (Caliban seria um anagrama da palavra espanhola canibal, usada para se referir aos grupos indígenas Caraíbas). Para além disso, porém, A Tempestade acabou se convertendo numa alegoria para pensar a América, e muito especialmente o confronto entre a América que foi se tornando “latina” com uma outra América, a “saxã”. É essa história fascinante da viagem das ideias, suas circulações e ressignificações, que o livro publicado neste início de 2025 pela editora Alameda nos conta. Um livro erudito, original, bem documentado e bem escrito. Um desses casos, infelizmente não muito comuns, de um grande tema contando num grande livro. Atento ao preceito de que a recepção das ideias revela mais sobre os receptores e seus contextos diferentes do que os supostamente originais, Ricupero reconstitui um século de apropriações e conflitos interpretativos que, como também argumenta consistentemente, estariam na base de uma politização da identidade latino-americana. Antes de eu entrar mais no livro – e sairmos molhados dessa travessia com tempestades –, porém, deixe-me explicar o porquê de minha afirmação anterior sobre Bernardo ser tarimbado como poucos para nos guiar nessa aventura intelectual. Bernardo Ricupero dedicou toda a sua formação acadêmica – aliás toda ela realizada com base no Departamento de Ciência Política da USP, onde leciona – à América Latina. Sua dissertação de mestrado estuda a “nacionalização” do marxismo no Brasil em Caio Prado Júnior, sem perder de vista o processo, digamos, funcionalmente equivalente no Peru, como José Carlos Mariátegui. A dissertação foi publicada em 2000 com o título de Caio Prado Jr. e a nacionalização do marxismo no Brasil. Sua tese de doutorado, também orientada por Gildo Marçal Brandão (uma das pessoas a quem o livro é dedicado), toma mais diretamente a comparação como um problema teórico-metodológico, e coloca em escrutínio contrapontístico o romantismo no Brasil tendo em vista a Argentina. Publicado como livro em 2004, O romantismo e a ideia de nação no Brasil (1830-1870) mostra como independência literária, historiografia nacional, mestiçagem e silêncio cauteloso sobre a escravidão são alguns dos elementos assentados pelo romantismo brasileiro na construção social da ideia de nação. É importante ler José de Alencar em contraponto a autores como Echeverría, Sarmiento, Alberdi, condutores da ideia de nação na Argentina. Esse background, que também se multiplica em disciplinas e orientações acadêmicas sobre a América Latina nas duas últimas décadas, adensa o debate do marxismo acadêmico uspiano, ao qual Bernardo Ricupero também se filia. No conjunto, seus trabalhos sugerem que, para que se possa apreender os efeitos políticos mútuos entre processos ideológicos e estruturas de poder, não devemos nos deter na constatação da importação de instituições e ideias que marcam as sociedades de matriz colonial. Mas, partindo desse mesmo mecanismo social, propõe a partir de Roberto Schwarz, sobretudo, qualificar as relações dialéticas, ainda que negativas, entre importação e apropriação social, que podem singularizá-las. Assim, a perspectiva comparativa entre sociedades de matriz colonial impõe-se como recurso metodológico na definição do sentido político assumido pelas ideias e pelas instituições em cada sociedade. Impasses de ordem marco-sociológica e econômica ocupam os lugares da dualidade nessa perspectiva que Bernardo vem contribuindo para renovar. Como se vê, estamos em mãos hábeis para a navegação por mares turbulentos – do século XVII de Shakespeare à longa passagem do XIX ao XX, dos meados dos anos 1950 até os anos 1980 do século passado, temporalidade coberta no livro de que ora nos ocupamos. É muito impressionante a quantidade e a diversidade de matéria textual levantada e analisada na pesquisa ao longo dos anos. Quantas leituras e releituras a subsidiam? Quantos escritores usaram personagens retirados do trabalho do dramaturgo inglês como metáforas para entenderem o que seria próprio à América Latina e o que seria comum a toda uma América? Que eu saiba, tendo escrito eu mesmo meu doutorado sobre Ronald de Carvalho, autor de O espelho de Ariel (1922), estão todos lá no livro de Bernardo, ainda que com ênfases e papéis diferentes na economia interna explicativa do livro. José Enrique Rodó, Roberto Fernández Retamar e Richard Morse, que a mobilizaram diretamente, formam não apenas o eixo da análise, mas também suas viradas na longa duração. Além desses autores, há os que com eles dialogam sem necessariamente trazerem as metáforas shakespearianas tão direta ou centralmente: Eduardo Prado, Joaquim Nabuco, Ruy Barbosa, Manoel de Oliveira Lima, José Veríssimo, Manoel Bomfim, Oswald de Andrade, José Vasconcellos, Rubén Darío, Paul Groussac, Francisco Garcia Calderón, Pedro Henríquez Ureña, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Emir Rodríguez Monegal e Leopoldo Zea são alguns deles. É um repertório de autores e ideias muito impressionante e que, mesmo nem sempre referidos uns aos outros, permite a Bernardo Ricupero explorar o que chama de uma “certa intertextualidade” entre eles. Identidade é relação. Politizar identidades é desnaturalizar relações. O foco, nunca perdido no livro, é a história das ideias sobre a identidade latino-americana em relação à norte-americana, especialmente vista do Brasil, ma non troppo. Como disse, é a trinca Rodó-Retamar-Morse que estrutura a massa de material primário e a análise do autor. O uruguaio José Enrique Rodó, quando o século XX se abria e os Estados Unidos emergiam como potência, identificou latinos com o espiritualismo do gênio alado Ariel, contraposto ao materialismo do “escravo selvagem e deformado” Caliban, supostamente mais próximo de anglo-saxões. Após a Revolução Cubana, Roberto Fernández Retamar reivindica a revolta de Caliban contra o senhor da ilha, Próspero, para a América Latina que enfrentava o desafio do imperialismo norte-americano. Já no final do século XX, momento em que a autoestima dos Estados Unidos era crescentemente colocada em questão, o norte-americano Richard Morse defendeu que Próspero, identificado com seu país, olhasse para o espelho de seus vizinhos como forma de lidar com suas dúvidas e incertezas. Ao invés de pensar esses autores como “momentos decisivos”, ao modo da Formação da literatura brasileira, de Antonio Candido, Ricupero acaba se aproximando do historiador das ideias políticas John G. A. Pocock. Como notou Maria Ligia Prado no excelente prefácio ao livro, Ricupero parece inspirado na ideia de “momento maquiaveliano” para organizar o texto e a análise em três partes: “o momento Ariel (em que a questão central é a cultura)” e José Enrique Rodó constitui o centro do debate; o “momento Caliban (em que a política assume um lugar proeminente)”, com o cubano Roberto Fernández Retamar; e o “momento Próspero (voltado especialmente para pensar a modernidade)”, em que se destaca a heresia de Richard Morse. The Machiavellian Moment (1975) me pareceu uma aproximação, de fato, muito acertada, pois o sentido dado por Pocock à ideia de “momento” envolve a combinação entre tempo e espaço distintos (em que o historiador trata em seu livro: o espaço e o tempo do republicanismo da Florença do Renascimento) e suas reverberações (no caso, nos três séculos seguintes, quando desempenha papel estrutural na constituição do republicanismo inglês e norte-americano), acrescento eu. Não puxarei mais esse fio, mas aviso leitoras e leitores que o livro é riquíssimo como montagem teórica e metodológica em torno dessa ideia de “momentos”, bem como em termos de estratégia narrativa, que, ademais, permite ao autor simultaneamente pensar e pesar o diacrônico e o sincrônico nas apropriações de A tempestade e, desse modo, discutir o que é comum e o que é diferente na identidade latino-americana face à norte-americana ou estadunidense. E, nela, na diferença, sobretudo, o que há de comum e perene, e o que há de particular em cada momento e também entre os autores, afinal, tão distintos. Na apresentação, Ricupero faz questão de chamar a atenção para o fato de que, no livro, os três momentos acabaram por ter tamanhos muito diferentes, com franca concentração no momento Ariel. Tudo bem, as razões apontadas, inclusive as contingentes, envolvidas na feitura de um livro dessa envergadura, são inteiramente defensáveis; mas, se fosse preciso, eu lembraria a ele que todo desenvolvimento acaba sendo desigual, mas combinado, não é mesmo? Uma grande conquista do livro, que merece a atenção de todos nós especialistas, diz respeito ao caráter relativamente aberto da análise diacrônica planejada. Num dos enunciados teórico-metodológicos centrais – embora discretamente formulado no livro, como, aliás, é discreta toda a discussão desse nível, já que são os textos forjados em torno de Ariel, Caliban e Próspero que protagonizam o enredo do livro, e não as particularidades e picuinhas acadêmicas –, Bernardo afirma: “A história se manifestaria na ambivalência, sendo também a dimensão a partir da qual o texto se inseriria na história”. Ele ressoa outro historiador das ideias, Reinhart Koselleck, a quem também recorre, neste caso explicitamente, para trabalhar a ideia de “camadas de significação” presentes num conceito e qualificar o que nele se manifesta tanto como permanência quanto como mudança. E mais: “Atrai-me também como o historiador alemão destaca a relação entre história dos conceitos e história social, no sentido de que os conceitos podem tanto funcionar como ‘fatores causais como indicadores de mudança histórica’”. O comum e o próprio. As permanências e as mudanças. A matéria viva dos livros ressuscitados por Bernardo Ricupero – e uso a expressão não apenas por estar escrevendo esta resenha num feriadão de Páscoa, mas porque ela cabe perfeitamente ao caso, me parece, de tão esquecidos que esses livros estavam, e talvez mesmo desconhecidos das novas gerações de intelectuais brasileiros. A meu ver, parte destes se deixou levar muito unilateralmente pela politização das identidades apenas no plano interno, fazendo o trabalho sem dúvida necessário de revirar os escombros da identidade nacional e mostrar o tanto de violências e apagamentos que foram produzidos para sustentá-la no projeto de construção do Estado-nação que durou quase dois séculos no Brasil. Mas já vivemos tempos de desacoplamento entre essas esferas. É preciso, agora mais do que nunca, correr atrás da compreensão das dinâmicas transnacionais e globais que nos definem, juntam e separam. E, num momento em que os Estados Unidos passam por transformações políticas de ordem carismática e populista tão incrivelmente discrepantes de tudo o que eles escreveram sobre si mesmos e em que muitos acreditaram, ler Entre Ariel, Caliban e Próspero não deixará também, ao que parece, de ser uma forma de nos prepararmos para o futuro bem próximo. Mas e este “entre”, o que será ele? | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Do sertão ao mar: como uma barragem reconstruiu a vida de moradores do SeridóBrasil61Oiticica desalojou milhares de pessoas, mas trouxe infraestrutura, oportunidades e esperança, segundo relatos dos reassentados de Barra de Santana “O sertão vai virar mar / Dá no coração / O medo que algum dia / O mar também vire sertão”. O poder da transformação humana perante a vastidão da natureza foi retratada na canção Sobradinho pela dupla Sá e Guarabyra em 1977. A composição se tornou símbolo do avanço de grandes obras de infraestrutura, sobretudo, as barragens, que mudaram radicalmente a paisagem dos sertões brasileiros. No Estado do Rio Grande do Norte, moradores do antigo distrito de Barra de Santana viveram de perto essa experiência, passados 34 anos do lançamento da música. No ano de 2013, o início da construção da barragem de Oiticica viria a desapropriar uma área com mais de 12 mil hectares na região do Seridó potiguar, que compreende os municípios de Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranhas. Quase 4 mil pessoas tiveram de se deslocar em razão do barramento do Rio Piranhas para a implantação de um reservatório imenso, com capacidade de reter 742 milhões de metros cúbicos de água. Era o mar que salvaria da sede e da seca a população de uma das regiões mais suscetíveis ao processo de desertificação no Brasil. O pecuarista e agricultor Reinaldo Pereira de Araújo, 68 anos, nasceu e morou em Barra de Santana, onde criou seus quatro filhos. Ele contou que a água bruta do rio Piranhas era encanada diretamente para as casas. “Teve uma época que a gente descia uma bomba pra ir buscar água, longe, longe, porque tinha secado o rio, e não tinha água. Era difícil”, recordou. Ainda que fosse um distrito urbano, com indústrias de alimentos, padarias, oficinas e serviços, Barra de Santana era um zoneamento sem abastecimento de água potável ou tratamento de esgoto. Atendendo aos pleitos dos moradores, o Governo do Estado do RN paralisou as obras da barragem até que fossem definidos acordos de indenização. Além de restituições financeiras que totalizaram R$ 60 milhões em indenizações, foi pactuada a construção de uma Nova Barra de Santana e outras três agrovilas. Para acomodar as famílias com dignidade em locais seguros, foi fornecida toda a infraestrutura: energia elétrica, água tratada, saneamento, coleta seletiva e acesso por rodovias. Nova Barra de Santana recebeu financiamento de quase R$ 60 milhões do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), e apoio do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Três modelos de indenização foram previstos: compensações monetárias com o Governo do Estado comprando os lotes que seriam alagados; permuta das antigas residências por imóveis novos de tamanho equivalente; e a permuta mista, que incluía troca de casa mais pagamento indenizatório, para as pessoas que se enquadraram como comerciantes e prestadores de serviços. Foi o caso de Érica Naiara Gomes Fernandes, 31 anos. “Meu avô era um dos maiores proprietários de terra dentro da Barra Velha e a gente vivia da agricultura familiar, criando gado e outros animais. Lá eu tinha uma açaiteria que abria só à noite, como uma renda extra. Agora, aqui em Barra Nova, eu montei uma estrutura toda moderna e vivo disso hoje”, contou. Outras perspectivas de vidaPara essas pessoas que tinham comércios ou prestavam serviços em suas antigas residências em Barra de Santana, o governo do Estado viabilizou a construção de 22 boxes para criar um centro comercial no novo distrito. Por ali já foram instaladas sorveterias, lojas de roupas e salões de beleza. Na quadra do setor institucional, ficam os serviços de educação (escolas e creches) e saúde (postos de atendimento). Há também um ginásio esportivo coberto para os eventos da comunidade. O contraste entre a antiga e a nova Barra trouxe outras perspectivas de vida para Érica, que está esperando o segundo filho. “Pretendo continuar aqui. Penso muito no turismo que vai crescer por causa da barragem de Oiticica. Pretendo fazer meu empreendimento crescer, para que as pessoas, ao visitarem o complexo, encontrem um bom acolhimento na Nova Barra”, adiantou a empreendedora. Muitas famílias, como a de Reinaldo, ainda são proprietárias de terras em locais secos no entorno da barragem. Todos os dias, o pecuarista vai de madrugada para o seu sítio em São Fernando cuidar de seus animais e cultivos. Apesar de manter a mesma rotina, Reinaldo faz uma ressalva: “A diferença é grande, aqui a casa é boa”, comentou. “Lá na Barra onde eu morava, a minha casa talvez valesse uns R$ 20 mil. Essa casa aqui, quando eu cheguei, foi avaliada em R$ 100 mil. Esse alpendre fui eu que fiz”, apontou. “Fiz a murada, fiz um telhado, fiz outro quarto lá pra trás”, emendou Reinaldo. Reassentamento rural: o quintal produtivo das agrovilasO fechamento total das comportas da barragem de Oiticica ocorreu em novembro de 2024, após a conclusão dos reassentamentos. Cerca de 217 famílias foram reassentadas em Nova Barra de Santana. Outras 115 famílias de proprietários e produtores rurais foram reassentadas nas agrovilas de Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranhas. De acordo com o engenheiro ambiental do Consórcio QS Oiticica, Luiz Fernandes, foi acordado com o governo do Estado que os trabalhadores rurais sem terra, atingidos pela construção da barragem, ganhariam imóveis próprios nas agrovilas. “Temos uma agrovila por município. Este é considerado o maior projeto de desapropriação e reassentamento para agricultura familiar no estado”, afirmou. Nas agrovilas, os terrenos têm uma casa e um quintal produtivo. Todas as casas têm saneamento básico, tratamento de água, e condição de vida digna para as famílias, além de lotes coletivos para produção. “Quem não tinha terra, nem condição de produção, hoje tem casa, tem terra e sustenta sua família com a agricultura familiar”, ressaltou Luiz Fernandes. “Manter essas famílias em agrovilas foi prevenir que essas famílias sem terra não se tornassem moradores de rua em zoneamentos urbanos”, completou. Patrimônio arqueológicoA construção da barragem de Oiticica levou à descoberta de uma das maiores concentrações de sítios arqueológicos no Brasil. Pesquisas realizadas a partir de 2019, entre os municípios de Jucurutu e Jardim de Piranhas, resultaram no cadastramento de 163 sítios arqueológicos na região, dos quais 95 apresentam painéis de gravuras rupestres lapidadas em rochas, e outros 68 bens do período histórico e pré-histórico. De acordo com o engenheiro ambiental do Consórcio QS Oiticica, Luiz Fernandes, o MIDR atuou em duas vertentes para garantir a preservação desse patrimônio. "Primeiro viabilizando recursos para a elaboração de programas que identificaram toda essa riqueza arqueológica e depois, proporcionando celeridade no licenciamento arqueológico através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)", explicou. Essas iniciativas foram fundamentais para preservar achados arqueológicos inestimáveis da região do Seridó e evitar atrasos no cronograma das obras. Ao todo, 53 sítios foram escavados e revelaram mais de 120 mil artefatos históricos. As peças estão preservadas no Museu Câmara Cascudo e no Laboratório de Arqueologia do Seridó, vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). As gravuras lapidadas em rochas estão situadas na comunidade rural Pedra Ferrada, na divisa dos municípios de Jucurutu e Jardim de Piranhas. Quem quiser conhecer deve percorrer a estrada no contorno da barragem de Oiticica e procurar moradores locais. Os materiais fazem parte do patrimônio arqueológico nacional e sua retirada ou degradação são expressamente proibidas. Fonte: MIDR | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Totens de segurança: entenda como funciona o dispositivo que virou tendência nos municípios brasileirosMatheus MouraCada vez mais presentes nos municípios brasileiros, os totens de segurança viraram tendência entre equipamentos tecnológicos utilizados no combate à criminalidade. Em cidades de São Paulo, por exemplo, alguns resultados positivos foram registrados no ano passado. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema, as áreas com esse tipo de equipamento apresentaram queda de quase 20% em alguns índices de criminalidade em 2024, na comparação com o ano anterior. Cada vez mais presentes nos municípios brasileiros, os totens de segurança viraram tendência entre equipamentos tecnológicos utilizados no combate à criminalidade. Em cidades de São Paulo, por exemplo, alguns resultados positivos foram registrados no ano passado. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema (SP), as áreas com esse tipo de equipamento apresentaram queda de quase 20% em alguns índices de criminalidade em 2024, na comparação com o ano anterior. Considerando os 25 totens da cidade, houve redução em 80% das áreas de abrangência dos equipamentos. No Distrito Federal, os dispositivos estão em fase de teste. De acordo com o governo local, os equipamentos estão instalados no Setor Comercial Sul e ao lado da Praça do Relógio, em Taguatinga. O período de teste será de 90 dias e os totens foram instalados no dia 24 de dezembro do ano passado. Após esse tempo, serão feitos relatórios e análises para avaliar a efetividade da tecnologia. Outro exemplo é a cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. De acordo com a prefeitura do município, os equipamentos foram instalados em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa faz parte da operação ‘’Verão Seguro’’, que acontece entre os meses de janeiro e fevereiro, período de grande movimentação nas praias locais. Segundo o secretário municipal da Defesa Social do Cabo, Julierme Veras, a utilização da tecnologia é essencial no combate à criminalidade. “No atual cenário, não há como abrir mão de instrumentos como esses, que nos ajudam na captura de dados importantes e no combate à violência na cidade”, afirmou. O que são totens de segurança?Segundo o especialista em segurança pública, Ricardo Bandeira, os totens de segurança são estruturas verticais que contam com equipamentos de vigilância e comunicação, criados com o intuito de aumentar a segurança em áreas públicas e privadas. Segundo ele, os dispositivos funcionam como pontos de monitoramento ostensivo. “Eles são uma ferramenta muito eficiente e importantíssima para a redução dos índices de violência e criminalidade, pois estão ligados diretamente à tecnologia de inteligência e investigação. Portanto, são eficazes naquilo que se propõem. Logicamente, esses equipamentos devem ser de qualidade, devem ter uma tecnologia atualizada e é fundamental que existam contratos de manutenção desses dispositivos”, pontua. Os totens de segurança podem ser integrados pelos seguintes equipamentos:
| A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Segurança Pública: projetos serão analisados no SenadoLívia BrazUma série de projetos de lei, aprovados nos últimos dias de 2024 na Câmara, passam agora pela análise dos senadores na volta do recesso parlamentar, na primeira semana de fevereiro. Seção 8 propostas que tratam desde a saúde mental dos policiais envolvidos em ações de alto estresse até campanhas de combate à violência contra policiais. Uma série de projetos de lei, aprovados nos últimos dias de 2024 na Câmara, passam agora pela análise dos senadores na volta do recesso parlamentar, na primeira semana de fevereiro. Seção 8 propostas que tratam desde a saúde mental dos policiais envolvidos em ações de alto estresse até campanhas de combate à violência contra policiais. Um deles, o PL 2.573/2023, trata sobre a previsão de assistência psicológica ou psiquiátrica para agentes de segurança que estiverem envolvidos em atos altamente estressantes. O texto do deputado André Janones (PT-MG) reserva entre 10% e 15% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para ações de saúde mental com o intuito de prevenir o suicídio desses policiais. Outro projeto que lei que prevê uso de recursos do FNSP é o PL 779/2024. No texto do senador Alberto Fraga (PL-DF), está prevista a criação da campanha Abril Branco, de combate à violência contra policiais. Entre as ações previstas no mês, estão debates sobre medidas de proteção, financiamento de campanhas com foco no treinamento tático das corporações e financiamento para compatibilidade de armamento e compra de equipamentos necessários à proteção dos policiais durante as atividades. Uma das motivações para esse projeto foi o alto número de mortes de policiais civis e militares, que, entre 2016 e 2022, pode ter chegado a um policial morto a cada 39 horas. A criação de um cadastro nacional de pedófilos também está entre os itens de um projeto que deve ser analisado no Senado. O PL 3.976/2020, do deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA), prevê que as informações de pessoas condenadas por crimes ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes sejam divulgadas na internet. Um emenda incluída neste projeto prevê ainda a castração química dos condenados por pedofilia. Outros projetos ligados à segurança, como o que torna crime hediondo o homicídio cometido em razão da condição de idoso da vítima e o que prevê planos de defesa contra roubo de empresas de transporte de valores, também fazem parte do pacote da segurança aprovado em 2024, que deve ser retomado em votação agora pelo Senado. | A A |
| BRASIL 61 |
Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | O que Musk e Bezos querem no espaço?Embora complementares, há diferenças entre os dois projetos. Bezos mira o mercado de satélites e o extrativismo extraterrestre de minérios. Já o dono da SpaceX, o escapismo: aceitar a ruína do planeta, construindo colônias orbitais ou em Marte Nas páginas iniciais de A Parábola do Semeador (1993), Octavia E. Butler descreve um sonho onde a memória terrena e a imaginação cósmica se entrelaçam como luzes distantes compostas de estrelas e corpos celestes. O romance reflete os restos, compostos de recordações e símbolos, de um futuro possível mais esperançoso. Lauren Olamina, a jovem protagonista que sofre de hiperempatia, encontra no firmamento uma centelha de esperança, quando a mudança climática global e as crises econômicas levam ao caos social na Califórnia, no início dos anos 2020. As estrelas, como espaços comuns e distantes, convertem-se em “refúgios imaginários” contra uma vida de abundância fora da Terra, que foi colonizada. No caos, a visão de Lauren transforma a vastidão cósmica em um lugar íntimo, em um respiro tangível onde o remoto e o possível se abraçam para criar uma nova fé, sobreviver e encontrar um novo destino humano. Estamos em 2025. Os incêndios florestais na Califórnia arrasaram mais de 400.000 hectares, especialmente em áreas como Los Angeles e Camarillo, forçando milhares de pessoas a sair e destruindo comunidades inteiras. Até o momento, o número de mortos é de 25. Paralelamente, na Flórida, Jeff Bezos lançou com sucesso o foguete New Glenn, conseguindo colocar um satélite em órbita, embora a tentativa de recuperar o propulsor principal tenha falhado. Este lançamento representa um marco na concorrência espacial comercial, na qual a Blue Origin busca se posicionar frente a empresas como a SpaceX, a companhia de Elon Musk que já domina o mercado com mais de 60 lançamentos bem-sucedidos no ano passado. Isto acontece apenas um dia após o foguete do magnata explodir sobre o Caribe, forçando as companhias aéreas a desviar seus aviões. A corrida espacial contemporânea representa uma transformação em relação à concorrência entre países da Guerra Fria. Se no passado a exploração espacial estava articulada em torno do prestígio nacional e da segurança geopolítica, hoje, por um lado, configura-se como um vetor de acumulação capitalista e, por outro, como uma estratégia de enfraquecimento do Estado. As infraestruturas privadas são fundamentais na expansão da batalha geopolítica para o espaço. Como destacou o caso das comunicações por satélite, cujo marco foi o sucesso da União Soviética em colocar em órbita o primeiro satélite, o Sputnik 1, em outubro de 1957, estas tecnologias nasceram no contexto de uma “Guerra Fria total” que subordinava amplos setores da sociedade aos imperativos da segurança nacional e do prestígio global. Atualmente, os donos das infraestruturas monopolizam as vias de comunicação, favorecendo as lógicas da segurança nacional dos Estados Unidos, facilitando o novo colonialismo espacial e permitindo as lógicas da acumulação por desapropriação. O melhor exemplo de como esse “poder infraestrutural” opera é que Musk controla a empresa de fabricação espacial SpaceX, amplamente ligada ao Exército estadunidense, e ao mesmo tempo lançou a Starlink, uma contratada do Pentágono para criar a maior rede de vigilância do mundo, aliada da Ucrânia no conflito com a Rússia. Bezos também não é apenas o dono do ramo de comutação na nuvem Amazon Web Services, que concentra um terço do tráfego da internet e dá suporte para a maioria das empresas do IBEX-35, mas também lançou uma empresa de transporte aeroespacial, a Blue Origin, que almeja oferecer voos suborbitais e orbitais, tanto para missões oficiais dos Estados Unidos quanto para voos privados. SpaceX, especulando com o futuroNo entanto, as visões que os dois magnatas têm sobre a corrida espacial estão longe de ser semelhantes, embora possam ser complementares. Em primeiro lugar, personagens como Elon Musk buscam avançar na agenda libertária de destruição do Estado por meio de qualquer veículo possível. Para isso, desde 2016, defende que a humanidade deveria estabelecer colônias autossuficientes e politicamente independentes em Marte para garantir a sobrevivência da espécie humana quando a Terra for destruída. A literatura acadêmica destacou que essa forma de mobilizar os imaginários coletivos, muitas vezes provenientes da ficção, faz parte de uma especulação sobre o futuro que pode ser entendida como “regimes de antecipação”, quando uma possibilidade imaginada e desejada é legitimada por meio de narrativas históricas deterministas, de progresso tecnológico e científico contínuo, construídas sobre uma nostalgia por épocas passadas de invenção e exploração. Mas o que buscam? No caso da SpaceX, isto implica assumir a inevitabilidade da ruína terrestre, enquanto mobiliza um poderoso discurso sobre os grandes homens que se dedicam à inovação científica em detrimento do Estado. Embora os grandes homens da história e as empresas privadas ágeis e disruptivas sejam apresentados como os protagonistas heroicos e gloriosos, no fundo encontramos uma ideologia “pós-neoliberal” típica de figuras neorreacionárias. Assentada sobre a base de que é possível existir um complexo mosaico de pequenos e competitivos projetos para a criação de Estados de propriedade privada (“Gov-Corps”), comunidades autônomas fechadas, cidades-estado e, inclusive, comunidades “extraterrestres”, como propõe Musk, nas palavras da pesquisadora Alina Ulatra, almeja-se abandonar os estados territoriais existentes por meio da criação de comunidades soberanas em novos espaços. Entre os exemplos mais notáveis destacam-se a colonização do espaço, mas também a construção de plataformas flutuantes no oceano e os estados digitais na internet, conforme propôs Peter Thiel. Até o momento, graças às mudanças introduzidas pelo governo Obama para favorecer empresas privadas como a Boeing, a SpaceX conseguiu se posicionar como uma destacada concorrente e impor sua visão de mundo às empresas aeroespaciais tradicionais no âmbito dos lançamentos orbitais de tripulação e carga nos Estados Unidos. A explicação pode ser encontrada em um elemento central da economia capitalista: custos mais baixos, lucros maiores e a acumulação de poder político. Os custos de lançamento da empresa de Musk são mais baixos que os dos rivais. Além disso, possui um orçamento bilionário para ações judiciais quando perde contratos públicos e exercícios de pressão política no Congresso dos Estados Unidos. Até aqui, tentou influenciar nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia, criticando o apoio que a Agência Espacial Europeia (ESA) e o governo francês oferecem à Arianespace, cuja série de foguetes Ariane compete diretamente com o Falcon 9 da SpaceX. Segundo pesquisas, antes a Arianespace e a Roscosmos dominavam aproximadamente 80% dos lançamentos comerciais. Agora, a SpaceX fica com cerca de 50 a 66% dos novos contratos neste setor. Sua capacidade de oferecer serviços de lançamento eficientes e sua constelação de satélites Starlink também levaram vários países a depender de suas tecnologias. Por exemplo, a União Europeia recorreu à SpaceX para lançar satélites Galileo, marcando a primeira colaboração deste tipo e refletindo a crescente influência da empresa na Europa. Em resumo, não só está redefinindo a exploração espacial, mas também remodelando as dinâmicas de poder entre nações e corporações no século XXI. A economia extraterrestre da Blue OriginEm relação a Jeff Bezos, o magnata imagina a criação de uma infraestrutura imperial por meio da construção de habitats artificiais que orbitariam a Terra e poderiam abrigar bilhões de pessoas, evitando a estagnação civilizacional e expandindo o capitalismo para as estrelas. Nas palavras do magnata, com a Blue Origin buscaria “construir um caminho para o espaço” e desencadear uma “nova indústria espacial” que possibilite aos empreendedores “criar uma empresa de seu dormitório”. Concretamente, a estratégia é criar operadores de satélite e suporte para o Pentágono que sejam mais baratos que os da SpaceX, graças à chamada “economia extraterrestre”, onde a fabricação e a mineração são feitas no espaço. Como se fosse a premonição da protagonista do romance de Octavia E. Butler, alguns trabalhos acadêmicos críticos, como o da já citada Alina Ulatra, colocaram sobre a mesa que a ideia de Bezos de conquistar o espaço, a chamada “fronteira vazia”, assenta-se na mesma lógica de territorialização que justificou o colonialismo terrestre e a espoliação indígena. “A colonização espacial é apresentada como uma solução tecnológica para a crise climática, uma que não requer mudar os modelos subjacentes de crescimento extrativista do capitalismo colonial.” Dessa forma, o dono da Amazon acredita que sua infraestrutura permitirá que o capitalismo se expanda para o espaço, ao mesmo tempo em que preserva os ecossistemas terrestres. Assim como acontece com os projetos imperiais na Terra, os observadores críticos alertam que existe o perigo de que, com a colonização do espaço, repitam-se os erros da colonização territorial da Ásia, Oceania, África e Américas. De fato, a historiadora Mary-Jane Rubenstein situa esse esforço em conquistar o espaço no marco de uma promessa de salvação quase religiosa: diante de um apocalipse iminente, alguns messias extremamente ricos oferecem uma fuga para outro mundo reservado a poucos eleitos. Afinal, os capitalistas tecnológicos não só impõem imaginários sociais e determinam o futuro através do fluxo de mercadorias. São as infraestruturas que sustentam essa utopia estúpida na qual o mercado é o único mecanismo para a nossa realização. Até o momento, a única posição a esse respeito tem sido retificar a chegada de tecnomaquinaria incrivelmente cara em termos de consumo de energia e rezar para que as empresas do Vale do Silício se instalem em seus territórios. O problema é o seguinte: renunciar à autonomia política para escolher a direção do desenvolvimento tecnológico, seja na terra ou na lua, implica também abandonar outra série de questões fundamentais, como a capacidade de decidir sobre os ecossistemas naturais e combater os riscos provenientes da crise climática. Os centros de dados como subterfúgioUm dos espaços mais interessantes para observar são os Centros de Processamento de Dados. Graças a eles, a fibra óptica transcontinental e transoceânica se conecta aos milhares de roteadores e servidores, cada um deles ligado a centenas de outros cabos elétricos que representam outros quatrilhões, “uma quantidade insondável de informação”, como definia o primeiro jornalista do mundo a pesquisar as origens da infraestrutura física da internet global. No território espanhol, a Amazon construiu um campus de três centros de dados, em Aragón, por meio da sua filial Amazon Web Services. Google e Microsoft abrirão novas regiões de nuvens em Madrid através da Telefónica. A IBM também construirá mais três centros de dados na capital, seu maior investimento na Espanha. Por sua vez, a Orange destinará investimentos no valor de 24 milhões para seus novos centros de dados na “Espanha periférica”, buscando tirar vantagem do baixo preço da terra. Recentemente, o Facebook (agora chamado Meta) anunciou a criação de quase 2.000 empregos para impulsionar o laboratório do metaverso em Madrid e um novo centro de dados em Castela-Mancha. Em 2023, a entrada de novos atores no mercado de centros de dados na Espanha aumentou a faixa de potência de 200 para 500 MW. Tal capacidade é necessária para converter cada experiência da vida de uma pessoa em um cálculo matemático, quase sempre graças a modelos de inteligência artificial, orientados ao consumo de produtos financeiros e a aumentar consideravelmente as necessidades de extração de recursos naturais. Efetivamente, como mostram artigos acadêmicos, a maioria dos centros de dados requer um grande e contínuo fornecimento de água para gerenciar seus sistemas de resfriamento, o que levantou graves problemas políticos em lugares como os Estados Unidos, onde anos de seca assolaram as comunidades locais. Em especial, como denunciam relatórios e investigações do Greenpeace, os centros de dados da Virgínia experimentaram um crescimento “espetacular” no uso de energia, atingindo cerca de 4,5 gigawatts, ou seja, a mesma potência de nove grandes centrais elétricas a carvão (cerca de 500 megawatts). O maior culpado, a Amazon Web Services (AWS), gasta 1,7 gigawatts em seus 55 centros de dados (em funcionamento ou construção), o que significou um aumento de 60% nos últimos dois anos. Devido aos avanços na computação em nuvem e ao crescimento do uso de serviços de internet, os centros de dados têm o maior crescimento na pegada de carbono de todo o setor das tecnologias digitais. De fato, segundo o Financial Times, em apenas três anos a Microsoft viu um aumento de 30% nas emissões de carbono. Dado que o gasto de energia geral dos centros de dados chegará a um terço dos 20% do consumo mundial de energia gerado pelas tecnologias da informação, a Comissão Europeia assinou um acordo com a empresa Thales Alenia Space para estudar a viabilidade de colocar centros de dados em órbita espacial. Marte e a Lua serão os lugares que o programa ASCEND, dentro do programa de pesquisa Horizon Europe, inspecionará como espaços para colocar os centros de computação com o objetivo de reduzir a pegada de carbono. “Centros de dados são transferidos para o espaço para mitigar o consumo de energia e a poluição”, dizia uma manchete do El País, em 2022. Em 2019, inclusive a Amazon patenteou uma rede de centros de dados distribuída geograficamente em um ambiente extraterritorial. Também um centro de dados lunar como parte de seu ramo de computação em nuvem, Amazon Web Services, que ficará localizado em Mare Tranquillitatis, uma bacia na Lua. Após explorar até o último espaço possível da Terra, e diante da nula disposição para mudar o modelo de crescimento econômico, uma missão de grandes corporações especializadas em infraestruturas espaciais buscará otimizar a arquitetura necessária para explorar os planetas vizinhos a um custo aceitável. Essa colonização do espaço por meio de infraestruturas digitais define como funcionam os modelos extrativos das grandes empresas de tecnologia. Após tomar nossos vales, nossas montanhas e nossos oceanos, as empresas que gerem os centros de dados avançam em todos os tipos de futuros coloniais. Algumas estão mais focadas na computação espacial, como a empresa estadunidense OrbitsEdge. Outras, como a empresa japonesa Nippon Telegraph and Telephone, planejam lançar um centro de dados no espaço em 2025. Neste caso, o objetivo é processar localmente os dados dos satélites para transmitir apenas informações úteis selecionadas para a Terra, o que reduziria o tempo e o custo da transferência de grandes quantidades de dados. Conforme a pesquisadora Yung Au, do Oxford Internet Institute, apontava em um trabalho acadêmico, o pensamento ocidental está estendendo seus imaginários coloniais em direção a esquemas sociais coletivos para projetar utopias de acordo com os planos macabros das grandes corporações tecnológicas. Estamos diante de “um futuro em que o universo é reivindicável, um futuro de céus geridos pela geoengenharia e um futuro em que os bens comuns globais, como a Lua, são repartidos de forma privada”. Estamos a tempo de propor alternativas, mas precisarão ser tão radicais quanto as propostas dos bilionários. Precisamos de infraestruturas públicas para a comunicação, erradicar as lógicas de vigilância de seu funcionamento, acabar com as guerras e empreender uma corrida entre os países para desmercantilizar as tecnologias digitais. A esse respeito, talvez nos sirva contarmos outros tipos de histórias, como aquela em que as Nações Unidas tentaram aproveitar a promessa de paz para aumentar a cooperação científica e afastar o potencial bélico da Era Espacial por meio da adoção do Tratado do Espaço Exterior, o Acordo sobre o Resgate e o Retorno, a Convenção sobre Responsabilidade, a Convenção de Registro e o Acordo da Lua. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | Fim da escala 6×1 interessa à Enfermagem?Dois projetos que tramitam no Congresso podem diminuir a jornada de trabalho da categoria – que muitas vezes trabalha em situações extenuantes. A luta será árdua, inclusive para desmentir falácia de que melhores condições causariam prejuízos à economia O início dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional em fevereiro, terá dois projetos de grande interesse para os trabalhadores em geral e, especialmente, para os profissionais da Enfermagem. A deputada Erika Hilton (Psol/SP) deverá apresentar na Câmara Federal a PEC que estabelece a duração do trabalho de até oito horas diárias e 36 semanais, com jornada de quatro dias por semana e três de descanso. E no Senado tramita a PEC 19/2024, de autoria da senadora Eliziane Gama (PSD/MA) e relatada pelo senador Fabiano Contarato (PT/ES), que vincula o Piso Salarial Nacional da Enfermagem a uma jornada de 30 horas semanais. Ambas as PECs tratam de criar melhores condições para que os trabalhadores possam ter vida além do trabalho. Com uma jornada diferenciada, muitas vezes em plantões intermináveis, alguns piores que a escala 6 x 1, profissionais de Enfermagem sofrem com as longas horas de trabalho sem descanso, correndo de um trabalho a outro, exaustos e doentes. Já a maioria dos trabalhadores tem apenas um dia livre na semana; dia que acaba não sendo de descanso, pois ele é usado para cuidar da casa e resolver problemas que não são possíveis de tratar nos dias de trabalho. Portanto, o trabalhador não tem um dia sequer de descanso, de lazer, de convivência com a família. E isso não é vida. Por isso, é importante que as duas PECs sejam discutidas e aprovadas. Elas têm o mérito de colocar as necessidades dos trabalhadores no centro do debate. Desde a reforma trabalhista de 2017, passando pelo governo Bolsonaro, os trabalhadores só tiveram perdas; quem tem carteira assinada, trabalha muito e ganha pouco; uma grande parcela, por outro lado, está no trabalho informal, em tese faz seu próprio horário, mas na prática trabalha todos os dias, uberizado, precarizado e sem mais direitos. Será necessária uma longa luta. Para se contrapor a ambas as PECs, os empresários e grandes conglomerados argumentam que ao virar lei, elas causariam prejuízos à economia — argumento já comprovado falso. Entidades como a Confederação Nacional do Comércio e Confederação Nacional da Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) agem para manter condições de trabalho semelhantes à escravidão, com um mínimo de direitos, o máximo de exploração e os lucros sempre maiores. A CNSaúde foi ao STF para dizer que o setor privado quebraria se pagasse o Piso da Enfermagem. Argumento aceito pelo Supremo, que suspendeu o pagamento do Piso, mas desmentido pelos números. Considerando os dados acumulados dos três primeiros trimestres de 2024, as informações financeiras enviadas pelas operadoras de planos de saúde e pelas administradoras de benefícios à ANS demonstram que o setor registrou lucro líquido de R$ 8,7 bilhões de janeiro a setembro de 2024 e um aumento de 178% em relação ao mesmo período de 2023. Do mesmo modo, quem se contrapõe a uma jornada de trabalho menor e mais humana também é desmentido pelos dados. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), países com jornadas mais curtas aumentam a eficiência e a satisfação dos trabalhadores, assim como as experiências realizadas em vários países ao redor do mundo. As jornadas exaustivas são das principais causas de problemas físicos e mentais dos trabalhadores. A redução de jornada eleva a qualidade de vida, reduz a incidência de doenças como o estresse e o burnout e gera bem-estar social. Estes benefícios se estendem para o conjunto da sociedade, em todos os setores, desde a educação até a saúde; profissionais satisfeitos prestam melhores serviços. Além disso, com a redução do cansaço e das doenças dele decorrentes, os serviços públicos de saúde serão desafogados. Começamos 2025 e temos pelo que lutar. Por uma vida digna para o conjunto da classe trabalhadora. Isso é muito mais do que uma simples diminuição das horas trabalhadas. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A | A América do Sul à beira do futuroDesarticulado e dividido em blocos, continente permanece periférico no sistema internacional. Até seu comércio interno é pífio. Superar esta condição é possível – mas exige outra postura do Brasil, em meio ao boicote explícito de Trump Às vezes de forma mais lenta, às vezes mais acelerada, algumas mudanças vêm acontecendo no panorama geopolítico e geoeconômico da América do Sul. Em alguns casos, reforçando velhos caminhos e “vocações” do continente; em outros, abrindo novas perspectivas e oportunidades que poderão ou não ser aproveitadas pelos 12 países que convivem lado a lado dentro desse território recortado por tantas barreiras geográficas, e tão próximo dos Estados Unidos. Destacamos em seguida quatro mudanças que deverão pesar decisivamente sobre o futuro continental: I) O aumento da assimetria sul-americana Em 1950, os dois países mais ricos da América do Sul – Brasil e Argentina – tinham mais ou menos o mesmo PIB, apesar de que os argentinos tivessem uma renda per capita, homogeneidade social, nível educacional e qualidade de vida extraordinariamente superiores em relação aos brasileiros. Hoje, setenta anos depois, a situação mudou radicalmente: se o PIB dos dois países girava em torno de US$ 80 bilhões em 1950, 70 anos depois, o PIB brasileiro multiplicou 23 vezes e é hoje de cerca de US$ 2,17 trilhões, enquanto o argentino multiplicou-se apenas oito vezes no mesmo período, sendo hoje de 640 bilhões de dólares. Uma assimetria entre os dois países que tende a aumentar exponencialmente nos próximos anos, e muito mais ainda entre o Brasil e os demais países sul-americanos. Hoje, o Brasil já possui metade da população e do produto sul-americano, e é o único país da região que tem alguma presença no tabuleiro geopolítico internacional. Depois do Golpe de Estado de 2016, entretanto, e até 2022, dois sucessivos governos de direita alteraram radicalmente a política externa, afastando o Brasil de todas as iniciativas integracionistas na América do Sul, ao mesmo tempo que se alinhava aos Estados Unidos e à OTAN, frente aos conflitos internacionais fora do continente. Em 2023, entretanto, o país retomou o rumo anterior de sua política externa e vem assumindo posições cada vez mais ativas no campo internacional, no grupo do BRICS, na presidência rotativa do G20 e na liderança mundial da luta pela sustentabilidade e controle das mudanças climáticas. No seu próprio continente, entretanto, o Brasil vem encontrando grandes resistências, que muito têm a ver com o aumento da assimetria regional, em que o Brasil aparece hoje como uma espécie de “elefante no meio da sala”. ii) A expansão da presença chinesa A segunda grande transformação da América do Sul, nas primeiras décadas do século XXI, foram o surgimento e a expansão acelerada do papel da China no desenvolvimento econômico do continente. Em apenas três décadas, o fluxo comercial entre América do Sul e China cresceu de US$ 15 bilhões em 2001, para cerca de US$ 300 bilhões em 2019. E o fluxo dos investimentos diretos chineses na região cresceu e se manteve em torno de US$ 10 bilhões anuais, em média, entre 2011 e 2018. Brasil, Peru e Argentina receberam a maior parcela desses investimentos até 2022, ficando o Brasil com 22% deste total, incluindo a fabricação de veículos elétricos, aquisição de ativos de lítio, expansão da Huawei e de outras empresas chinesas de data centers, computação em nuvem e tecnologia 5G, e em grande quantidade de infraestrutura elétrica. Nas duas primeiras décadas do século XXI, a China também dobrou sua participação nas importações realizadas pelos países sul-americanos, cujo valor bruto cresceu mais de 700%, enquanto as exportações brasileiras para a América do Sul, por exemplo, no mesmo período, cresceram menos de 40% do crescimento chinês. Mesmo durante a crise econômica de 2008, a participação brasileira no mercado argentino recuou de 42% para 31,5%, enquanto a participação chinesa subiu de 21,5% para 30,5%. E o mesmo aconteceu na Venezuela, onde a participação chinesa subiu de 4,4% em 2008, para 11,5% nos quatro primeiros meses de 2009. Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, do Chile e do Peru na América do Sul, e está entre os três maiores parceiros comerciais de todos os países do continente. Só no caso brasileiro, 30,6% de suas exportações em 2023 foram para a China, que foi ao mesmo tempo o maior fornecedor de bens importados pelo Brasil. E oito países sul-americanos já fazem parte da iniciativa da Belt and Road chinesa: Argentina, Peru, Bolívia, Chile, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela. Na linguagem estruturalista clássica, pode-se afirmar que nesse período a China se transformou no novo “centro cíclico principal” da economia sul-americana. E hoje, como no passado, o principal interesse dos chineses na América do Sul segue sendo seus recursos naturais e minerais, apesar de também estarem participando das grandes licitações governamentais da região. E o cenário para os próximos anos promete uma oferta excedente de produtos e capitais chineses, que deve derrubar barreiras e constituir um imenso desafio competitivo para os capitais norte-americanos e brasileiros. iii) A nova estratégia norte-americana de “polarização mundial” A terceira grande mudança aconteceu no campo das relações da América do Sul com os Estados Unidos, que nunca abandonaram sua Doutrina Monroe, formulada em 1823 com o objetivo de combater e expulsar a influência europeia do continente sul-americano. A diferença é que, no século XIX, esse discurso era contrário aos interesses das potências coloniais europeias, e favorável à independência de suas colônias sul-americanas. Na primeira metade do século XX, entretanto, a mesma doutrina legitimou a intervenção norte-americana na América Central e Caribe, para mudar governos e regimes que eles consideravam contrários aos seus interesses. E na segunda metade do século, ela voltou a ser utilizada para “proteger” os países da América do Sul, só que agora contra a “ameaça comunista”, que justificou o apoio norte-americano a uma sucessão de golpes e regimes militares que liquidaram a democracia no continente, destruindo ao mesmo tempo sua soberania e seus projetos autônomos de futuro. No início do século XXI, durante a sua “guerra global ao terrorismo”, os Estados Unidos reduziram seu grau de envolvimento político com os assuntos sul-americanos. Um “déficit de atenção” que durou até o “desembarque” econômico dos chineses na América do Sul na segunda década do século, e até o início do conflito entre os Estados Unidos e a Rússia, na Ucrânia, após o golpe de Estado de 2014. Desde então, os Estados Unidos vêm se propondo “repolarizar o mundo” no estilo da Guerra Fria do século XX, de maneira que os demais países do sistema internacional, e também da América do Sul, teriam que se posicionar de um lado ou de outro da “linha vermelha” estabelecida por eles e seus aliado europeus. iv) O declínio do projeto de integração sul-americano A maioria dos países sul-americanos superou o impacto da crise de 2008 mais rapidamente do que no resto do mundo, graças à grande demanda de seus produtos de exportação por parte das economias asiáticas, da China em particular, que sustentaram as quantidades e os preços das commodities sul-americanas num nível extremamente elevado. Mas este sucesso de curto prazo provocou um efeito inesperado em toda a América do Sul, ao aprofundar, de forma paradoxal, as velhas dificuldades enfrentadas desde sempre pelo projeto de integração econômica da América do Sul. Basta dizer que, na América do Norte, o comércio intrarregional é da ordem de 40% do seu comércio global; na Ásia, de 58%; e na Europa, de 68%; enquanto na América do Sul, mal chega aos 18%.1 Os caminhos do futuro Dividida em blocos, e com a maior parte dos países separados ou distantes do Brasil, por conta do contencioso venezuelano, a América do Sul deverá se manter na sua condição tradicional de periferia econômica do sistema internacional, mesmo diversificando e ampliando seus mercados na direção da Ásia. Para não ser assim, o Brasil terá que assumir a “liderança material” do continente, construindo uma estrutura produtiva que combine indústrias de alto valor agregado e tecnologias de ponta, com a produção de alimentos e commodities de alta produtividade, mantendo sua condição de grande produtor de energia tradicional e “energia limpa”. Neste caso, o Brasil poderá mudar o rumo da região, transformando-se na sua “locomotiva econômica”, por cima das divergências políticas e ideológicas que hoje dividem e imobilizam um continente que – sem o Brasil – não tem a menor relevância geopolítica dentro do Sistema Mundial. Neste ponto, entretanto, não há como enganar-se: o Brasil enfrentará nos próximos anos uma concorrência acirrada e um boicote explicito do governo de Donald Trump que considera que a única relevância da América do Sul é pertencer ao “quintal dos Estados Unidos”. 1 “O Brasil ainda está de costas para a América do Sul e isso precisa mudar”. Entrevista da ministra brasileira do Planejamento, Simone Tebet, Brasil 247, 6 de setembro de 2024. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |  Guerras Culturais e a ilusão da Política sem CulturaElas não se resumem a um embate de ideias: são o campo onde a direita constroi as bases para sua hegemonia – e disputa o Estado. O método é interditar os debates e mobilizar por meio do pânico moral. As esquerdas erram ao tratar a Cultura como algo secundário… Muitos enxergam a guerra cultural – termo popularizado para descrever disputas ideológicas que se manifestam em valores, costumes e narrativas sociais -, como algo superficial, um truque, uma distração que desvia a atenção da sociedade das chamadas “questões reais” — econômicas e institucionais. Contudo, essa perspectiva chega com um vício subjacente: subestima o papel central da cultura na disputa pelo poder. A cultura nunca foi um detalhe: ela estrutura os valores de uma sociedade, delimita o que é aceitável e enquadra o que deve ser combatido. Em toda disputa política, a cultura é o ponto de partida e o terreno onde as percepções de realidade são definidas, elaboradas, reelaboradas e questionadas. A guerra cultural não se resume a um embate de ideias; ela é um método projetado para desarticular o debate público. Seu objetivo não é persuadir pelo argumento, mas transformar discordâncias em ameaças existenciais. Nesse contexto, a identidade ocupa o lugar do pensamento crítico, e o ódio substitui a argumentação. Nada disso ocorre por acaso: trata-se de uma estratégia deliberada, que prospera na radicalização e na simplificação dos problemas, inviabilizando qualquer possibilidade de mediação. Mais do que um ruído periférico da política, a guerra cultural é um mecanismo cuidadosamente estruturado para reorganizar o poder. Grupos conservadores compreenderam que a cultura não é apenas uma expressão da sociedade, mas um campo ativo de disputa, onde significados são produzidos, valores negociados e relações de poder naturalizadas. Ao deslocarem suas batalhas das urnas e dos tribunais para o campo cultural, trataram a cultura como um território estratégico para consolidar hegemonias e reconfigurar a percepção pública. Compreender esse fenômeno exige ir além da superfície das manchetes ou dos embates cotidianos. É necessário investigar suas raízes históricas, seus métodos e suas estratégias para revelar como a guerra cultural transforma as prioridades políticas e reconfigura o próprio exercício do poder. Somente com essa compreensão será possível construir respostas que ultrapassem o imediatismo e enfrentem a centralidade da cultura no jogo político. Vamos tentar. A tradição das Guerras CulturaisAs disputas culturais atravessam os séculos, assumindo diferentes formas e intensidades, mas sempre refletindo os embates mais profundos de uma sociedade. Embora o termo “guerra cultural” pareça recente, suas raízes remontam a momentos históricos muito anteriores à sua formalização como conceito sociológico. No século XIX, por exemplo, a Alemanha vivenciou o Kulturkampf, um conflito entre o Estado prussiano e a Igreja Católica pelo controle da educação, da moral e da identidade nacional. Essa disputa demonstrou que a cultura não é apenas um reflexo passivo da sociedade, mas um campo dinâmico de poder e conflito. O Kulturkampf evidenciou que, desde o século XIX, a cultura já era tratada como um espaço central de poder. Essa lógica foi intensificada nos Estados Unidos, especialmente a partir dos anos 1960. O avanço dos direitos civis, do feminismo e da contracultura foi percebido por setores conservadores como uma ameaça à estabilidade da ordem social. Em resposta, estruturou-se uma ofensiva moral que não apenas resistia às transformações sociais, mas buscava ativamente reverter os avanços conquistados. Nos anos 1990, o sociólogo James Davison Hunter consolidou a noção de guerra cultural em sua obra Culture Wars: The Struggle to Define America. Inserido em uma tradição sociológica que explora as transformações culturais como arenas de disputa política e de poder, Hunter argumentou que a guerra cultural não era apenas um embate ideológico, mas uma luta entre visões de mundo incompatíveis. Ele demonstrou como esses conflitos moldavam legislações, direcionavam o sistema educacional e influenciavam decisões judiciais, transformando a cultura em um campo estratégico para redefinir hegemonias. Andrew Hartman, em A War for the Soul of America, deu continuidade a essa análise ao situar os conflitos culturais dos anos 2010 como parte de um ciclo histórico contínuo de disputas ideológicas nos Estados Unidos. Hartman destacou que, ao deslocar o foco para questões de moralidade e costumes, as guerras culturais funcionavam como mecanismos para obscurecer crises estruturais mais amplas, como as do modelo econômico, permitindo que hegemonias conservadoras em declínio encontrassem novas bases de sustentação. Essa tradição sociológica, especialmente influente nos Estados Unidos, se desenvolveu em um contexto marcado pela pluralidade de valores em uma sociedade multicultural e pelas crescentes divisões políticas e ideológicas. Wendy Brown, em Undoing the Demos, argumenta que o neoliberalismo não apenas reconfigura economias, mas também transforma profundamente a cultura e a política, submetendo-as à lógica do mercado. Nesse cenário, as guerras culturais desempenham um papel estratégico: ao mobilizar pautas identitárias e morais, muitas vezes urgentes e legítimas, o neoliberalismo desloca o debate público de questões estruturais, como desigualdades econômicas, para conflitos culturais que fragmentam solidariedades coletivas. Essas disputas não são desvios do projeto neoliberal, mas parte integrante de sua dinâmica, pois enfraquecem a organização de resistências e criam um ambiente em que o individualismo e a competição prevalecem. Assim, as guerras culturais não apenas refletem conflitos ideológicos, mas também operam como mecanismos que reforçam as desigualdades e limitam as possibilidades de transformação social. Enquanto nos Estados Unidos as guerras culturais emergiram como reação a transformações sociais e à crise da hegemonia conservadora, no Brasil elas foram concebidas deliberadamente como estratégia política. Como destaca João Cezar de Castro Rocha em sua obra Guerra Cultural e Retórica do Ódio: Crônicas de um Brasil Pós-Político, a guerra cultural brasileira não emergiu espontaneamente, mas foi estruturada como uma ferramenta de mobilização de setores conservadores. Seu objetivo era reconfigurar o debate público, deslocando-o para temas culturais e morais, como forma de consolidar um projeto de poder. Dessa forma, a guerra cultural no Brasil tornou-se um instrumento central para deslocar o debate público e minar a construção de uma sociedade democrática, ao instrumentalizar questões morais como ferramentas de controle político. A disputa cultural no Brasil: construção e estratégiasNos Estados Unidos, a guerra cultural emergiu como uma reação aos avanços dos direitos civis e das pautas progressistas, marcando um momento de crise para hegemonias conservadoras. No Brasil, no entanto, essa dinâmica não foi apenas uma adaptação local do fenômeno norte-americano. Seu surgimento deve ser entendido no contexto das transformações políticas, sociais e econômicas que se intensificaram a partir da primeira década do século XXI, marcadas pela polarização ideológica e pela crise de legitimidade das instituições democráticas. Com o avanço das redes sociais e o impacto global de movimentos conservadores, setores da direita brasileira passaram a adotar estratégias de guerra cultural para reorientar o debate público e criar inimigos internos. Além disso, o desgaste do sistema político tradicional, agravado pelos protestos de 2013 e pela Operação Lava Jato, forneceu o terreno fértil para a emergência de narrativas que deslocavam o foco das questões estruturais para disputas culturais e morais. Nesse cenário, como aponta Castro Rocha em seu Guerra Cultural e Retórica do Ódio, consolidou-se um movimento coordenado para transformar a guerra cultural em uma estratégia deliberada de poder, voltada a minar instituições de conhecimento e fortalecer uma hegemonia conservadora. Olavo de Carvalho (1947–2022) tornou-se uma figura central na articulação da guerra cultural no Brasil, especialmente a partir dos anos 2000. Inicialmente conhecido nos círculos intelectuais conservadores como ensaísta e crítico da modernidade, Olavo ganhou maior projeção pública com a ascensão das redes sociais e o fortalecimento de movimentos de direita. Nos anos 1990, seus textos já abordavam temas como a crítica ao marxismo cultural, mas foi na década seguinte, com o uso massivo do YouTube e a disseminação de suas ideias em comunidades digitais, que se consolidou como o principal ideólogo da nova direita brasileira. Seu discurso, profundamente anti-intelectualista e conspiracionista, rejeitava a academia tradicional, que acusava de estar dominada por uma “hegemonia marxista”. Inspirado por autores conservadores como Roger Scruton e Eric Voegelin, Olavo desenvolveu uma narrativa que combinava referências filosóficas e religiosas para atacar as bases do pensamento progressista. Seus escritos e vídeos serviram como ponto de encontro ideológico para grupos conservadores, apresentando professores, jornalistas e artistas como agentes de uma suposta revolução cultural de esquerda. Esse discurso foi instrumental para moldar o imaginário de uma nova geração de lideranças políticas e militantes digitais. O impacto desse discurso foi amplificado por estruturas digitais sofisticadas. Isabela Kalil, em O Ódio como Política: A Reinvenção das Direitas no Brasil, destaca como a segmentação comunicacional foi usada de forma estratégica, combinando microtargeting digital e discursos inflamados contra supostos “inimigos internos”. Redes sociais como WhatsApp, Facebook e YouTube desempenharam um papel central ao mobilizar diferentes grupos — de militares e religiosos a empresários — em torno de narrativas comuns. Outro elemento central nesse cenário foi a produção audiovisual revisionista, que teve na produtora Brasil Paralelo, fundada em 2016, um de seus principais pilares. Seus conteúdos reinterpretam a história brasileira sob uma perspectiva conservadora e conspiracionista, frequentemente simplificando debates complexos para reforçar uma narrativa alinhada à guerra cultural. Como destacam Salgado e Jorge, no artigo publicado na Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, essa estratégia não apenas descredibiliza instituições como a mídia e a academia, mas também busca moldar a memória coletiva em torno de versões distorcidas do passado, como no documentário 1964: O Brasil entre armas e livros, que minimiza os crimes da ditadura militar. Essa estratégia também incluiu uma revisão da memória nacional sobre a ditadura militar. Rodrigo Patto Sá Motta, em A Construção da Verdade Autoritária: A Ditadura Militar Brasileira e a Formação da Memória Social, analisa como essas narrativas revisionistas ressignificaram o regime, promovendo uma visão segundo a qual os militares “salvaram” o país do comunismo. Essa reinterpretação tornou-se dominante em determinados círculos conservadores, contribuindo para a reabilitação simbólica do regime e de figuras como Carlos Alberto Brilhante Ustra. Apesar de a moralidade ocupar um lugar central nesse processo, Frederico Rios observa em Neoliberalismo como Tragédia e Farsa: Crônicas da Guerra Cultural no Brasil que a guerra cultural brasileira não se limitou a questões religiosas ou de costumes. Ela também incorporou um forte viés econômico e corporativo, com empresários e grupos de mídia conservadores investindo na construção de narrativas que vinculam o “livre mercado” à modernização do país, enquanto demonizam movimentos sociais e acadêmicos como inimigos da sociedade. A guerra cultural no Brasil avançou não apenas pela força do discurso conservador, mas também pela ausência de uma estratégia articulada por parte dos setores progressistas. Como Antonio Gramsci aponta em Cadernos do Cárcere, o poder não se mantém apenas pelo controle do Estado, mas também pela ocupação de espaços culturais e pelo convencimento das massas. A direita compreendeu essa lógica e investiu maciçamente em redes sociais, influenciadores digitais e plataformas audiovisuais, enquanto a esquerda concentrou suas energias na política institucional. A virada digital da guerra cultural transformou o embate político ao favorecer discursos polarizados e conspiratórios. Plataformas como YouTube e Twitter fortaleceram bolhas informativas que alimentam ressentimentos e criam inimigos fictícios, sequestrando o debate público com narrativas simplificadas. Nesse ambiente, qualquer discordância é tratada como uma ameaça existencial. Enfrentar a guerra cultural exige mais do que reações pontuais ou denúncias das estratégias da direita. É necessário compreender a cultura como um terreno central de disputa, onde valores e símbolos moldam o imaginário coletivo e a percepção da realidade. Apenas uma estratégia propositiva e de longo prazo, que combine ação política e ocupação cultural, será capaz de reverter os avanços dessa hegemonia conservadora e criar novas possibilidades para um debate público mais democrático. A cultura como território de disputa A cultura sempre foi um campo central de embate político, estruturando valores, identidades e percepções de poder. No debate público, ela é frequentemente relegada a um papel periférico, tratada como um reflexo das relações econômicas ou como mera expressão simbólica, sem impacto estrutural. Essa visão desconsidera que é na cultura que os significados são gerados, as relações de poder se tornam naturais e as subjetividades políticas são construídas. A guerra cultural não criou essa dinâmica — apenas evidenciou sua raiz estrutural. Raymond Williams, em Marxism and Literature, demonstrou que a cultura não é um reflexo passivo das estruturas sociais, mas um espaço onde as ideologias disputam hegemonia. Com seu conceito de Materialismo Cultural, Williams rompeu com a visão tradicional de que a cultura seria apenas um subproduto da economia, mostrando como ela organiza a experiência vivida e orienta o que pode ser legitimado ou excluído. Essa perspectiva foi enriquecida pelo historiador E. P. Thompson, em sua obra clássica A Formação da Classe Operária Inglesa, na qual revelou que as classes sociais não emergem apenas das condições materiais, mas também da forma como experiências históricas e narrativas coletivas conferem sentido à identidade política. Stuart Hall, em textos como The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of the Left, dialogou com essas ideias ao explorar como a hegemonia é construída através do consenso cultural antes de se consolidar no poder institucional. Para Hall, quando uma ideia se torna senso comum, significa que a batalha cultural já foi vencida, mesmo sem mudanças explícitas nas estruturas políticas. Essa interação entre o simbólico e o estrutural torna a cultura não apenas um reflexo, mas um campo de contestação e transformação, onde as visões de mundo são negociadas e naturalizadas. Compreender a centralidade da cultura na disputa pelo poder exige considerar sua relação com as estruturas de controle e legitimidade. É nesse ponto que as ideias de Antonio Gramsci se tornam fundamentais. Gramsci, ao tratar da hegemonia em seus Cadernos do Cárcere, destacou que o poder não se sustenta apenas pela coerção estatal, mas pelo convencimento. Esse convencimento ocorre principalmente no campo cultural, onde valores e crenças são internalizados e naturalizados, tornando-se aparentemente neutros e incontestáveis. Essa lógica é visível no Brasil contemporâneo, onde a guerra cultural reorganiza os marcos da legitimidade, redefine quais discursos são aceitáveis e desloca o debate público para questões conservadoras que consolidam novas hegemonias. A disputa pela hegemonia cultural pode ser observada na reinterpretação da história nacional, na reabilitação simbólica da ditadura militar e no embate sobre o papel da educação na formação crítica dos cidadãos. O que está em jogo não é apenas o controle de narrativas, mas a construção de uma visão de mundo dominante que configura o imaginário político. O problema, então, não é que a guerra cultural tenha esvaziado a cultura como campo de disputa — ao contrário, ela a tornou ainda mais central, mas sob a lógica da direita. Enquanto a esquerda concentrou seus esforços na política institucional e econômica, a direita investiu na cultura como espaço estratégico, compreendendo que é ali que se consolidam valores, se reorientam percepções e se estabelecem os limites do que pode ou não ser contestado. Ao transformar a guerra cultural em uma estratégia de hegemonia, a direita redirecionou o debate público para suas pautas, consolidando sua agenda sem depender exclusivamente de vitórias eleitorais. A virada digital da guerra cultural amplificou ainda mais seu alcance e alterou profundamente seu funcionamento. Com as redes sociais, a guerra cultural deixou de depender dos veículos tradicionais e passou a operar em ciclos de viralização instantânea. O engajamento algorítmico favorece discursos polarizados, transformando indignação em capital político. No Brasil, a guerra cultural digital consolidou-se com a ascensão de influenciadores políticos e o uso massivo de fake news para manipular narrativas e mobilizar eleitores. A cultura não é um elemento acessório na luta política; ela é o campo onde se constroem as bases da hegemonia. Quem controla a cultura não apenas domina narrativas, mas define os limites do possível, orienta valores e molda a percepção da realidade. Enfrentar a guerra cultural, portanto, exige mais do que reação ou denúncia: é necessário um esforço estratégico e de longo prazo que trate a cultura como o principal território de disputa política. Apenas ao disputar a cultura de forma propositiva e estruturada será possível reverter a hegemonia conservadora e resgatar a capacidade de a cultura funcionar como uma ferramenta crítica, capaz de ampliar os horizontes do debate público e transformar a sociedade. ConclusãoA guerra cultural não é um desvio da política real, mas uma de suas formas mais sofisticadas de disputa pelo poder. Ela opera no longo prazo, reconfigurando percepções, deslocando os termos do debate público e redefinindo o que é socialmente aceitável ou inaceitável. Enquanto a direita utilizou esse mecanismo para consolidar sua influência, a esquerda demorou a reconhecer a cultura como um território central na luta política. O resultado é um cenário onde o debate público foi capturado por discursos que naturalizam desigualdades, reforçam hierarquias e deslegitimam o pensamento crítico. Nesse ambiente, toda oposição é transformada em inimiga e todo questionamento, em ameaça. O apelo moral, frequentemente mobilizado, não se apresenta apenas como uma justificativa conservadora, mas como um recurso eficaz para interditar debates, deslocar o foco de questões estruturais e fortalecer narrativas reacionárias. A guerra cultural não se limita ao enfrentamento direto de ideias políticas; ela transforma valores e comportamentos em campos de batalha permanentes, onde o que está em disputa não é apenas a argumentação, mas os próprios limites do que pode ser imaginado, dito e aceito na sociedade. Se a guerra cultural consegue deslocar a política para onde lhe convém, enfrentá-la exige mais do que reações pontuais ou denúncias. É necessário ocupar o campo cultural de maneira propositiva e estrutural, disputando valores, símbolos e espaços de influência. Isso demanda pensar a longo prazo, evitando o imediatismo que apenas responde às condições impostas pela própria guerra cultural. A força da guerra cultural não reside apenas no que ela impõe, mas no que ela torna invisível ou impensável. Ela não precisa censurar ideias diretamente — basta torná-las irrelevantes, ridículas ou impossíveis de serem levadas a sério. Seu impacto não se mede apenas pelo que é dito, mas também pelo que é silenciado. A política não acontece exclusivamente no parlamento ou nas urnas. Ela se constrói na cultura, nos afetos, nas memórias e na forma como as pessoas percebem o mundo ao seu redor. Como a hegemonia se consolida na cultura, qualquer resistência efetiva deve emergir a partir dela. O erro da esquerda foi tratar a cultura como algo secundário, permitindo que a direita ocupasse esse espaço estratégico. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
Saúde mental: para enfrentar os agravantes climáticosDizer que a crise climática causa sofrimento não basta – ou poderíamos “resolver” a questão com mais drogas psiquiátricas. Há alternativa: combater a desigualdade, que agrava eventos extremos, será decisivo para uma resposta coletiva ao problema Nos últimos anos, a saúde mental se tornou cada vez mais prioritária na agenda de governos e sociedades, incluindo no Brasil. Contudo, esse processo não acontece sem percalços. Proliferaram-se também as discussões rasas e as interpretações mercadológicas sobre o sofrimento psíquico. Elas muitas vezes predominam na busca de possíveis respostas – individuais ou coletivas – que podem ser implementadas em nossa realidade, em especial nas formas do cuidado. Buscando contribuir com as discussões em profundidade no âmbito da saúde mental, Outra Saúde apresenta com alegria aos leitores sua nova coluna. Por ela, será responsável Claudia Braga, professora do curso de Terapia Ocupacional da USP, ex-consultora de saúde mental da OPAS e coordenadora do grupo Saúde Mental Global – Estudos e Pesquisas em Saúde Mental, Drogas e Desinstitucionalização. Todas as terceiras quintas-feiras do mês, este boletim veiculará instigantes reflexões como a que se segue, em que Claudia aborda os atuais desafios da saúde mental à luz da crise climática. Boa leitura! (G. A.) Ocorrendo até esta sexta-feira (22/11) em Baku, no Azerbaijão, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2024 (COP 29) é um momento decisivo para avançar em acordos e compromissos para frear os impactos das mudanças climáticas e atender às necessidades dos países mais vulneráveis a elas. Dos muitos impactos que as mudanças climáticas provocam (e que vêm sendo agravados pela tragédia política geral), é considerável o impacto sobre o bem-estar – o que exige novas respostas dos sistemas de saúde, em especial para a saúde mental. A questão é: quais respostas temos que construir também nesse campo? Responder essa pergunta exige que, primeiro, a gente reflita sobre outra questão: como cuidamos da saúde mental? O que nos leva a uma terceira (e mais importante) pergunta: em que termos estamos definindo o que é saúde mental? É a partir de certo entendimento sobre o que é saúde mental e o que promove saúde mental que vamos responder com mais ou menos qualidade ao problema das mudanças climáticas. As mudanças climáticas são uma realidade de enormes consequências na vida das comunidades, como vimos nas inundações no Rio Grande do Sul e na seca da Amazônia. Esforços internacionais, ainda insuficientes, têm sido empreendidos para reverter esse cenário e seus impactos, principalmente na saúde, segurança alimentar e habitação, conforme a Organização das Nações Unidas (ONU) vem afirmando. Sobre a saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) assinala que as consequências climáticas estão entre as maiores ameaças à saúde global, incluindo à saúde mental. Nesse contexto, na 77ª Assembleia Mundial de Saúde realizada em junho de 2024, foi aprovada a resolução sobre Mudanças Climáticas e Saúde, que aponta: “Eventos e condições climáticas extremas cada vez mais frequentes estão tendo um impacto crescente no bem-estar, nos meios de subsistência e na saúde física e mental das pessoas, bem como ameaçando os sistemas de saúde e as instalações de saúde”. A necessidade de agir está posta. Uma abordagem individualizada será eficazHá duas principais linhas de ação se constituindo para uma abordagem de saúde mental no contexto das mudanças climáticas. A primeira dessas linhas parte da ideia de que as mudanças climáticas intensificam fatores de risco para problemas de saúde mental, e podem levar ao desenvolvimento de problemas de saúde mental e ao agravamento daqueles já existentes. Ou seja, as mudanças climáticas, somadas a experiências de vulnerabilidade e problemas ambientais e econômicos, podem levar ao tensionamento das relações sociais, sentimentos de medo e tristeza, e experiências entendidas como estresse, ansiedade e depressão. É nessa linha que temos observado emergirem novos conceitos para descrever sentimentos pessoais e coletivos relativos às mudanças climáticas, como eco-ansiedade (ou ansiedade climática) e solastalgia. A compreensão aqui é que as mudanças climáticas podem causar sofrimento, vivido como problema de saúde mental pelas pessoas, e que muitas vezes ganha o nome de um diagnóstico psiquiátrico, esteja ele consolidado e ou em invenção. Daí, suas respostas se centram na oferta de cuidados de saúde mental com abordagens mais ou menos individualizadas. Pensar a resposta às mudanças climáticas a partir do coletivoPor sua vez, a segunda linha parte da constatação de que mudanças climáticas tornam mais frequentes emergências relacionadas a eventos climáticos extremos, com impactos que afetam a vida em geral, incluindo a saúde mental das pessoas. Aqui, a resposta consiste em integrar o componente da saúde mental nas respostas ampliadas ao problema da emergência climática. As ações possíveis incluem estruturação e disponibilização de serviços em vários níveis, mobilização de suporte comunitário e apoio social, oferta de primeiros cuidados em saúde mental para sofrimento agudo, fortalecimento dos cuidados de saúde mental ofertados nos sistemas de saúde, proteção e promoção dos direitos das pessoas com problemas de saúde mental graves, e construção de fluxos e mecanismos de encaminhamentos entre serviços baseados na comunidade, incluindo os de assistência emergencial que fornecem comida, água e abrigo. Nesse caso, a compreensão é que as mudanças climáticas provocam emergências climáticas em grande escala, sendo preciso responder à situação de emergência em sua complexidade. Daí a abordagem focada na organização de sistemas e estruturas de gestão, incluindo oferta de cuidado, em uma resposta de saúde pública integrada às necessidades gerais das pessoas e comunidades, sendo a saúde mental uma das dimensões da vida que é inteiramente impactada. É inegável que alguns grupos populacionais estão mais em risco do que outros no contexto das mudanças climáticas, dependendo das vulnerabilidades e desigualdades existentes. No último relatório do The Lancet Countdown, Marina Romanello e colegas constatam que, “embora nenhuma região não seja afetada, as populações mais vulneráveis e minoritárias, que muitas vezes contribuíram menos para as mudanças climáticas, são desproporcionalmente afetadas”. Isso, elas argumentam, é “uma consequência direta de injustiças estruturais e dinâmicas de poder prejudiciais, tanto entre os países quanto dentro deles”. Enfrentar as iniquidades sociais para promover saúde mentalEm outubro de 2024, foi apresentado na Assembleia Geral das Nações Unidas um novo relatório do Relator Especial para Pobreza e Direitos Humanos da ONU, que trata da relação entre pobreza e saúde mental. O relatório sustenta com base em estudos que há uma relação significativa entre situação de maior pobreza e experiência de problemas de saúde mental. Isso se dá não exatamente pela renda mais baixa – mas porque, em razão da desigualdade e insegurança econômica pela diferença de renda, as pessoas de baixa renda vivem estresses constantes e condições de vida desfavoráveis. Fatores como insegurança alimentar, moradia precária e vulnerabilidade a conflitos e violência também são listados como catalisadores de problemas de saúde mental. Afinal, são problemas na vida das pessoas. Ou seja, o contexto de vida impacta a saúde mental – algo óbvio, mas que segue sendo negligenciado nas respostas aos problemas de saúde mental, incluindo no cenário de mudanças climáticas, mesmo com a relação entre saúde mental e determinantes sociais sendo há tempos estabelecida. É preciso lembrar que a experiência de sofrimento se dá nos cenários da vida cotidiana e nas relações. Portanto, a resposta em saúde mental – com foco nos indivíduos ou na organização de sistemas – precisa partir do reconhecimento das possibilidades que são ofertadas às pessoas e comunidades e o que é vivido por elas. Se alguém tem ou não moradia adequada, trabalho e renda seguros e relações de suporte de qualidade, sua experiência do impacto das mudanças climáticas muda radicalmente. E se isso é determinante da experiência, é nisso que as políticas públicas e legislações precisam incidir. Reconhecer isso é necessário para romper com uma visão restrita de causa-efeito de mudanças climáticas e sofrimento individual – que tantas vezes é reduzido ao nome de estresse, ansiedade e depressão, e produz frágeis respostas focadas em terapia e medicalização que não alteram os fatores que determinam sofrimentos. Mesmo considerando o que tem se denominado de ecoansiedade, uma espécie de preocupação em relação às mudanças climáticas, não é preciso muito para concluir que é mais eficaz construir políticas e leis sérias de proteção ambiental e de preparação de sistemas para lidar com mudanças climáticas. Promover a experiência de segurança e amparo a partir do conhecimento de que se tem moradia adequada, rede de suporte e trabalho assegurado – essa abordagem vai muito mais longe do que ofertar formas individuais de terapias para lidar com o sofrimento das pessoas. Uma abordagem de saúde mental na resposta às mudanças climáticas requer – como requer qualquer abordagem de saúde mental – produzir respostas às desigualdades sociais. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
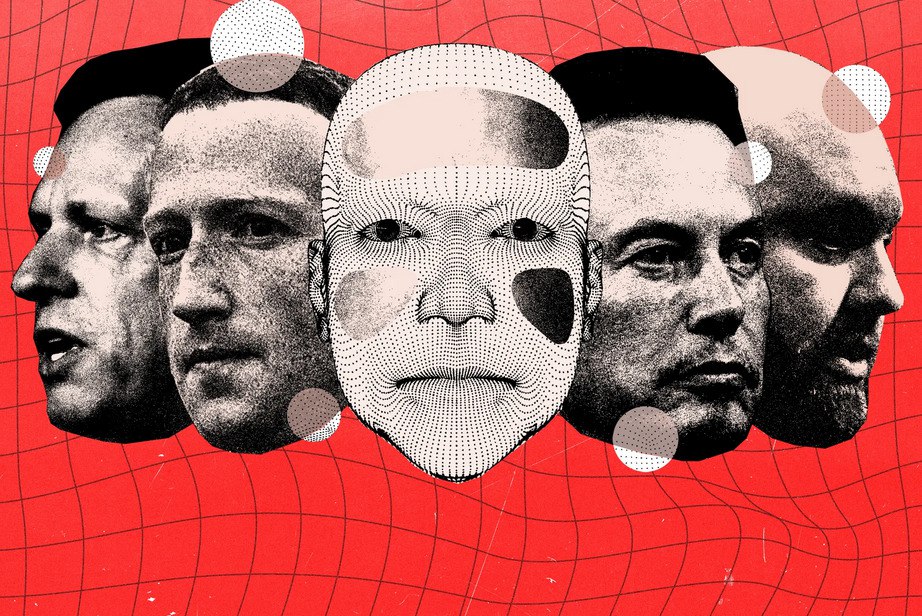






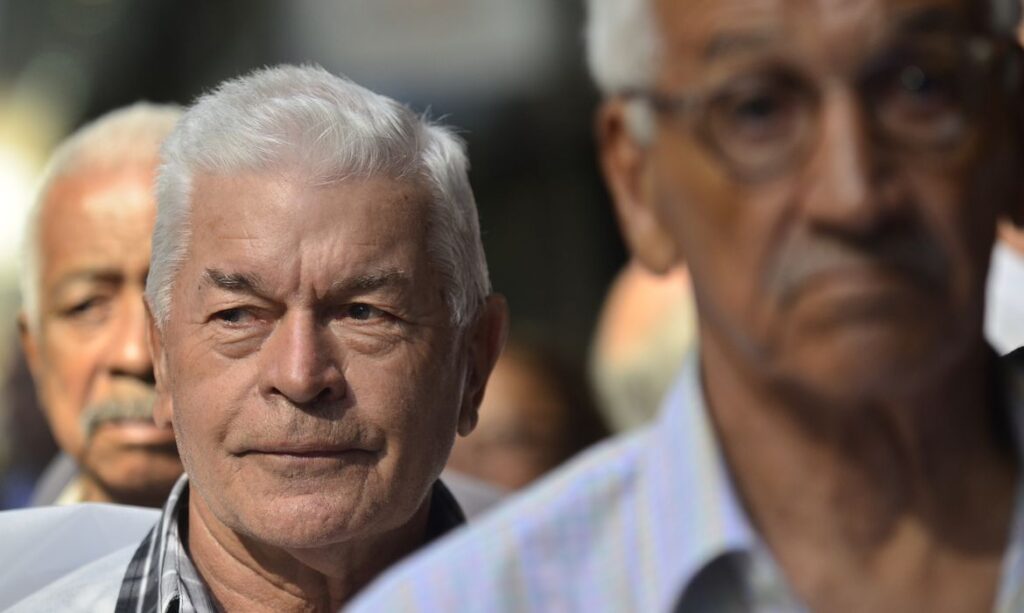
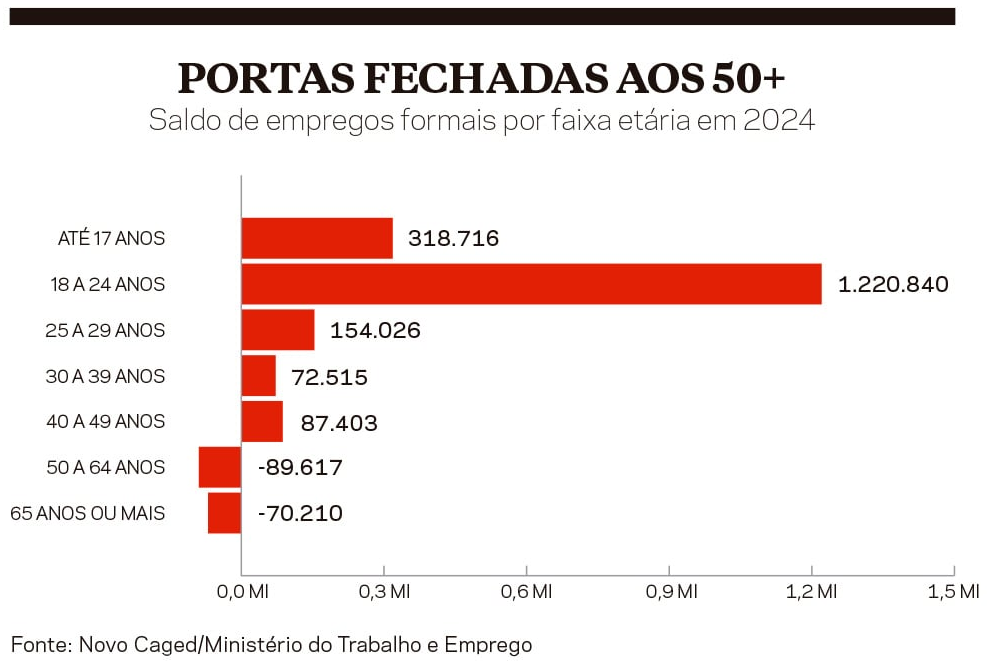

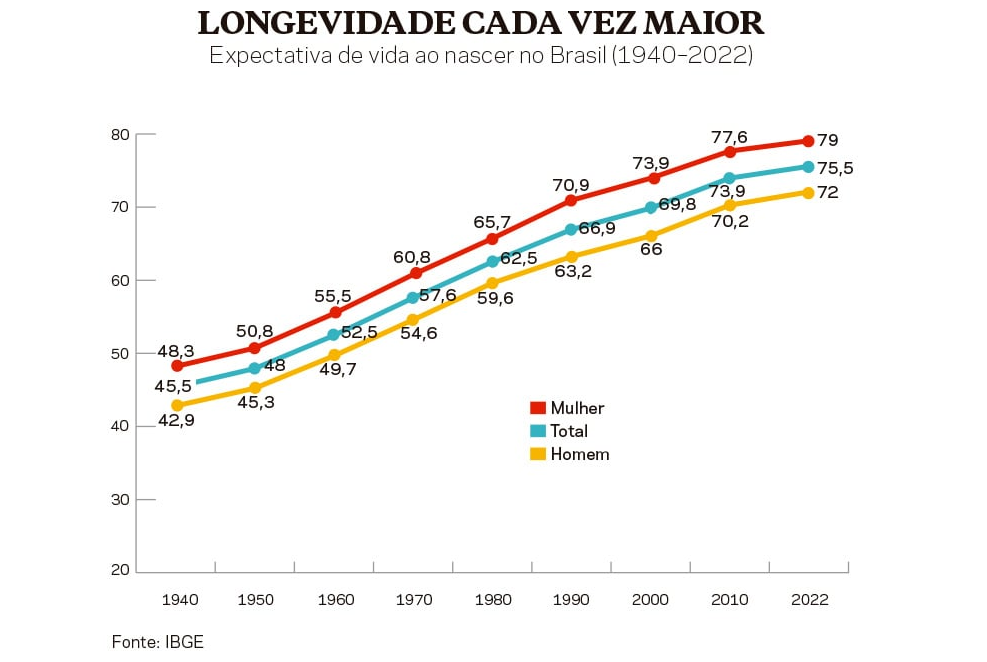
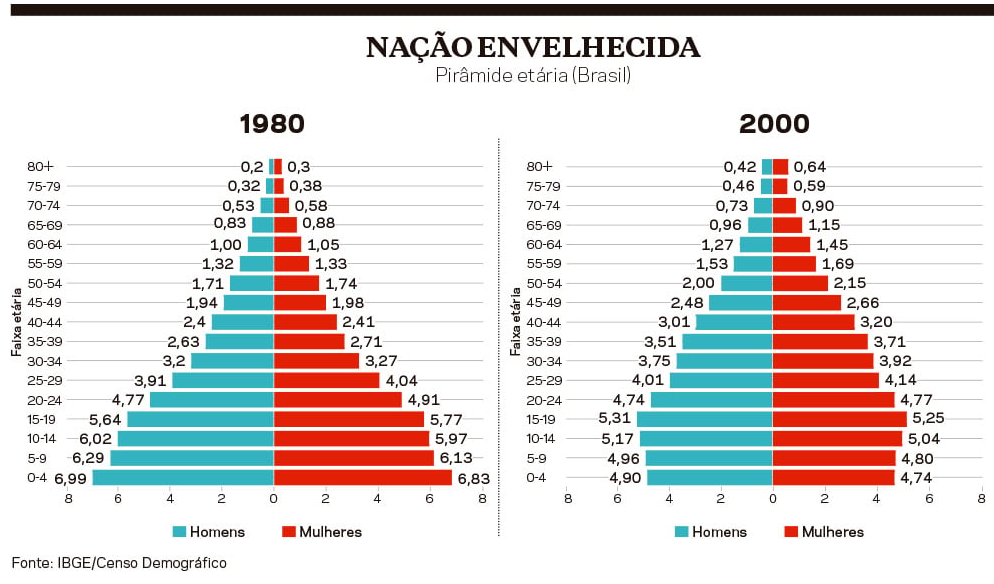
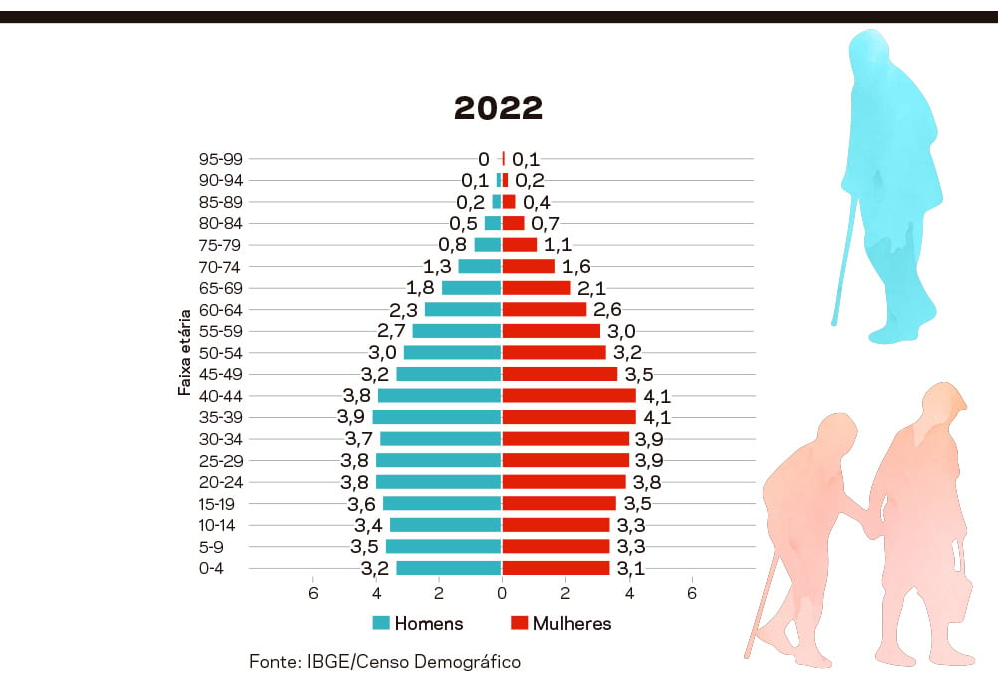

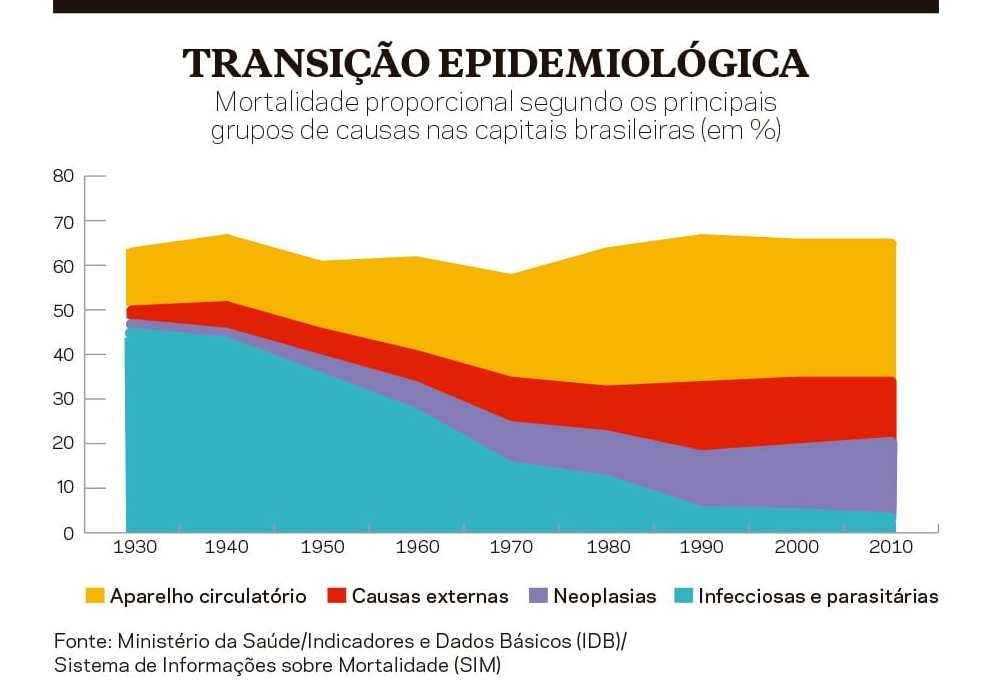
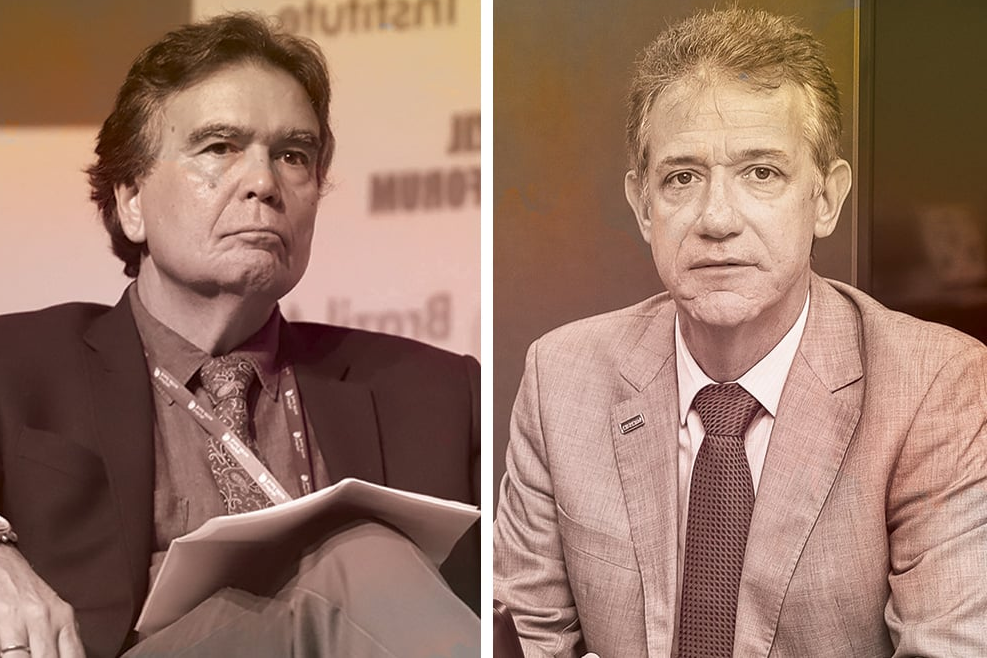
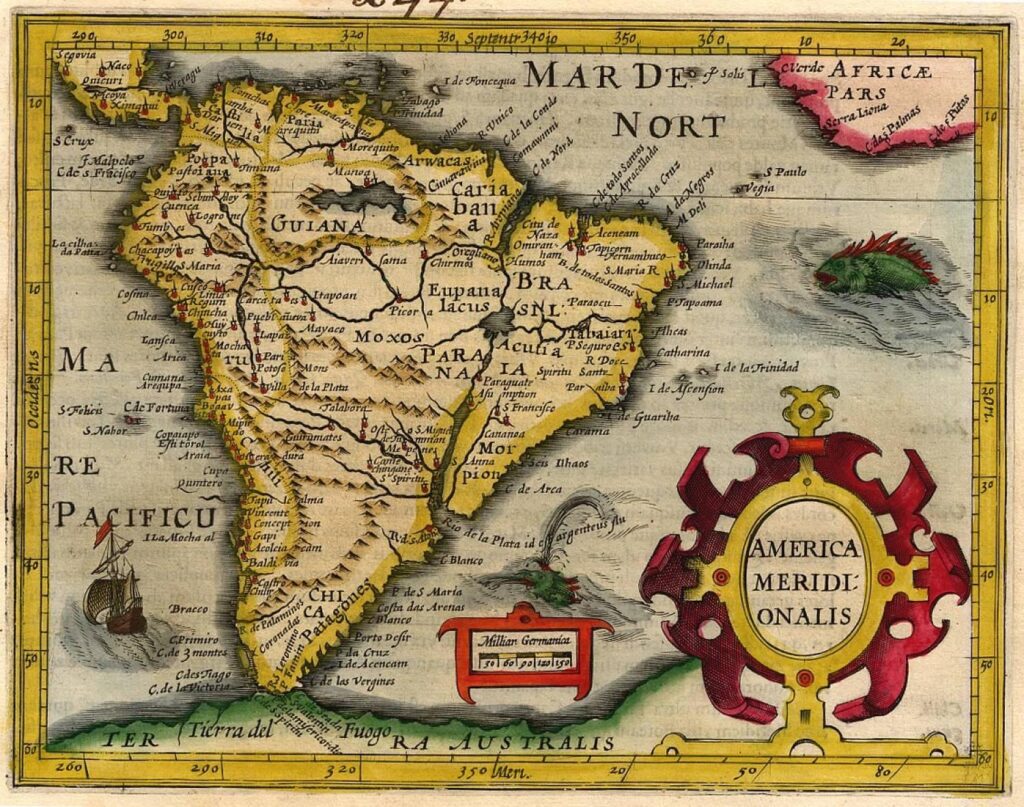






Comentários
Postar um comentário